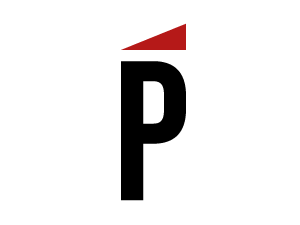Texto e Ilustração: Felipe Kahlil
Nos últimos anos, a camisa da Seleção Brasileira deixou de ser só uma peça de torcida. Virou farda ideológica. O verde e amarelo, que um dia uniu o país em Copas do Mundo ou carnavais, agora separa. Em abril deste ano, a ideia — falsa — de que o segundo uniforme da Seleção poderia ser vermelho foi suficiente para causar alvoroço nas redes. A cor, associada à esquerda e ao PT, virou quase um palavrão para certos grupos. A pergunta que fica é: como chegamos até aqui?
Desde a Ditadura Militar, símbolos nacionais — como a bandeira, o hino e a camisa da Seleção — foram usados como ferramentas políticas. A conquista do tricampeonato na Copa de 1970, por exemplo, foi transformada em propaganda do regime, como prova do suposto sucesso do “Brasil que vai pra frente”. A Seleção era vitrine da nação, e a camisa amarela, um símbolo do governo.
Nos anos 1980, durante a redemocratização, esses mesmos símbolos passaram a ser usados por movimentos populares. Nas Diretas Já, o verde e amarelo voltou às ruas como sinal de luta democrática. Foi nesse período também que o Corinthians protagonizou um dos episódios mais marcantes da intersecção entre futebol e política: a Democracia Corinthiana. Liderada por jogadores como Sócrates e Wladimir, a iniciativa defendia participação e liberdade no clube e apoiava abertamente as eleições diretas. A camisa do time estampou a palavra “Democracia” e sua torcida organizada, a Gaviões da Fiel, passou a usar faixas com a foice e o martelo — símbolos de resistência e identidade de classe.
A partir de 2013, o verde e amarelo voltou ao centro das ruas com as manifestações populares. Em 2018, foi consolidado como marca visual da campanha de Jair Bolsonaro. A camisa da Seleção foi apropriada como uniforme da direita conservadora, associada a valores como patriotismo, religiosidade e combate ao comunismo. Expressões como “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” se tornaram slogans repetidos sob o verde e amarelo. Ao mesmo tempo, o vermelho passou a ser evitado, tratado como símbolo de ameaça.
O problema não está nas cores em si, mas no que elas passaram a significar. A nação, como definiu Benedict Anderson, é uma construção simbólica compartilhada. Quando seus símbolos são monopolizados por apenas um grupo, perde-se o sentimento de pertencimento coletivo. O futebol, que sempre funcionou como um ponto de união, virou mais um palco da polarização.

Hoje, vestir verde e amarelo pode ser visto como adesão a um campo político. Usar vermelho também. Muitos evitam ambas por medo de serem rotulados. E a camisa da Seleção, que deveria representar todos, tornou-se mais um marcador ideológico.
A mídia teve papel importante nesse processo. Na Ditadura, ajudou a vincular a camisa da Seleção ao sucesso do regime. Nos anos 1980, cobriu a retomada popular dos símbolos. Mas a partir de 2013, com a polarização crescente, parte da imprensa passou a reforçar leituras ideológicas das cores — verde e amarelo como ordem, vermelho como ameaça. Ao noticiar boatos como o da “camisa vermelha” sem o devido contexto, acaba fortalecendo narrativas que usam os símbolos para dividir, não para representar.
E essa disputa se estende para além do futebol: na arte, nas escolas, nos palanques e até nos desfiles de Sete de Setembro. É uma batalha pelo direito de representar o que é o Brasil — e para quem ele deve pertencer.
A crise é simbólica, mas profunda. Quando símbolos de união viram bandeiras de guerra, o que se rompe é a própria ideia de “Brasil” como projeto comum. A disputa por cores e camisas reflete a fragmentação da identidade nacional.
Talvez esteja na hora de lembrar que o verde, o amarelo, o azul e o vermelho fazem parte da nossa história. Estão nos campos e nas ruas, nos protestos e nas comemorações. Reduzir essas cores a instrumentos de separação é empobrecer nossa cultura. Os símbolos devem expressar quem somos — não dividir quem pode ou não usá-los.