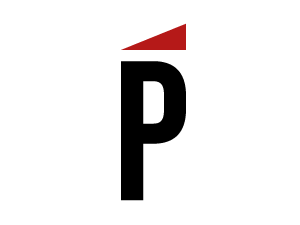O difícil processo de tentar desvendar as resistências por trás da construção da cultura brasileira
Texto: Dayranny Amorim | Gabriel Barbosa | Grazielly Marangon
Quando pensamos em cultura, neste caso a brasileira, é comum pensarmos em estilos musicais populares, comidas típicas e algumas outras produções relacionadas, em geral, a entretenimento. Mas, efetivamente, o que é cultura? A Declaração Universal da UNESCO afirma que “a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos […] que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange […] os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças”.
A partir dessa definição, podemos nos perguntar: Será que uma nação tem apenas uma cultura? Como a definimos? Uma única cultura é capaz de dar conta da mistura diversa e complexa dos povos que compõem nosso país? E para além disso, como podemos identificar, descrever ou apresentar nossa cultura?
Não sabemos as respostas, e, não sei se somos capazes de definir a estrutura – cultural – da sociedade brasileira. Mas, quando não pensamos nessa pluralidade cultural brasileira, e não tentamos entendê-la, é difícil compreender o que chamamos de Brasil. É nesse momento que a síndrome do vira-lata (veja no glossário), descrita pelo jornalista Nelson Rodrigues, aparece. A dificuldade que a/o brasileira/o tem em se definir talvez esteja na escancarada desvalorização da cultura nacional. Nós conhecemos pouco, entendemos pouco, valorizamos pouco nosso próprio país. Da geografia, passando pela história, pelas particularidades ambientais, pela cultura.
Quando nos aproximamos da nossa cultura, é impossível não acessar a história nacional e as práticas ligadas à população negra e indígena. Muitas dessas práticas, narrativas, conhecimentos, foram negados ou apagados ao longo dos anos, em prol de um suposto Brasil hegemônico.
O passado e o presente, não só da cultura, como da história brasileira, estão ligados à exploração, à escravidão e às relacões interraciais do país, anteriores e posteriores a abolição. As tentativas de embranquecimento racial, como aconteceu, por exemplo, durante o governo Vargas, foram além do mito da “democracia racial” (veja no glossário) e afetaram, também, a formação da(s) cultura(s) nacional(is).
O passado e o presente, não só da cultura, como da história brasileira, estão ligados à exploração, à escravidão e às relações interraciais, anteriores e posteriores a abolição.
A professora e doutoranda em Antropologia Social, Priscila Lini, aprofunda a discussão a partir da maneira racista com que a “ideia de nação brasileira” foi construída. “Nós tivemos primeiro uma tentativa de branqueamento do fenótipo brasileiro, e depois o whitewashing (veja no glossário) cultural. Um exemplo é o futebol, que não é mais uma forma de sociabilidade, e era um esporte predominantemente negro. A partir de agora o futebol é um produto brasileiro. Isso até como forma de apaziguar eventuais problemas sociais que o racismo de fato trazia, mas que não se queria reconhecer”, aponta.
Zé Cariocas e Jecas Tatus
Monteiro Lobato criou o Jeca Tatu em 1914, um homem do interior, preguiçoso, miserável, ignorante e doente. Lobato representava o estereótipo de parte da oligarquia paulista — aquela que, para ele, tinha grande responsabilidade pelo atraso do progresso brasileiro. Jeca Tatu expõe como a classe privilegiada do país enxergava a população marginalizada, sem acesso à educação e à condições básicas de vida. Aqueles que não eram seus iguais e que não ocupavam o mesmo espaço que eles — ou seja, a maioria do país.
Zé Carioca aparece pela primeira vez em 1942. Sua criação aconteceu depois de uma visita de Walt Disney ao Brasil, em 1941. Zé é um papagaio antropomórfico, (veja no glossário) extremamente preguiçoso, malandro, que engana pessoas com facilidade. Gosta de festas, principalmente do samba, não paga suas dívidas e flerta com muitas mulheres. Walt Disney o apresenta, numa confusão entre crítica e homenagem, como representação do povo brasileiro e, principalmente, da cultura brasileira acessada fora do país. Para ele, Zé Carioca era a representação do brasileiro médio, bonachão, alegre, receptivo, rotineiro nas ruas do Rio de Janeiro, centro do país na época.
Apesar da diferença de momentos históricos e de quase 30 anos entre os personagens, ambos representam ideias muito fortes da suposta persona “tipicamente” brasileira e de características nacionais acessadas até hoje. Um povo descompromissado, que ri da própria desgraça, jocoso, comunicativo, boa-vida, criativo, operário…
Definir a cultura como uma só, como um conglomerado nacional, sem pensarmos na diversidade dos Brasis, é quase impossível. Porém, podemos destrinchar alguns aspectos que a estruturam.
A raíz da fé
As crenças e as estruturas religiosas do Brasil, frutos do sincretismo religioso (veja no glossário) são elementos culturais importantes do nosso país. Ao debater esse tema, é importante ressaltar a disputa histórica que existia, e ainda existe, entre o catolicismo – a maior, em quantidade de fiéis; segundo o Censo Demográfico de 2022, 56.75% da população é católica – e as religiões de matrizes africanas – perseguidas desde os tempos da escravidão. O pai Juan Sángò, da Casa de Caridade Dona Tida, em Campo Grande – MS, explica a origem do sincretismo no Brasil. “Os primeiros escravizados trazidos para cá foram pessoas de alto escalão do povo banto. Eles usaram da sua inteligência para poder cultuar as suas divindades, porque, quando chegaram, entenderam que tinha um ancestral nessa terra que precisava ser cultuado — e assim surge o culto caboclo”, conta.
Essa fusão de diferentes doutrinas religiosas é descrita pelo escritor, professor e mestre em História Social, Luiz Antônio Simas, em seu livro Almanaque Brasilidades – Um inventário do Brasil popular, como uma forma de construção cultural. O sincretismo pode ser entendido como um fenômeno de mão dupla, funcionando tanto como estratégia de resistência e controle – com nuances complexas – quanto como uma expressão de fé. Simas acrescenta que a incorporação de deuses e crenças de outra doutrina é vista, por muitos povos, como acréscimo, e não, necessariamente, diluição da força espiritual. O fenômeno evidencia a resistência de descendentes dos povos originários e africanos que precisaram ressignificar, diariamente, a catequização forçada de seus ancestrais, revivendo a potência da fé e a luta dos que vieram antes deles. Grande parte da cultura, assim como da religião, oriundas dos não-europeus, foram símbolos de resistências e lutas contra o embranquecimento sociocultural.
A Música
O samba, manifestação das comunidades afro-brasileiras e derivado de ritmos africanos e indígenas, desceu os morros e se instaurou nas coberturas da elite, reinterpretado com o nome de Bossa Nova. O novo gênero musical surgiu na zona sul carioca, fruto da fusão do samba com o jazz norte americano. Foi criado por e para brancos da classe média alta. Rapidamente, ficou conhecido no exterior como “A cara do Brasil”. Porém, no país, esse estilo musical não chegou a metade da população.
O professor e doutor em Música, Evandro Higa, aborda o processo de domesticação dos primeiros sambas gravados. “Quando o samba começa a ser gravado, já vai sendo configurado de acordo com as normas da indústria fonográfica. Uma das das questões é que, mesmo sendo sambas compostos por pessoas negras, quem gravava e quem conseguia espaço eram os cantores e cantoras brancas”, explica.
O samba é um exemplo de como aspectos da cultura brasileira são influenciados por fatores diversos e enredados. Historicamente, é um ritmo que conecta saberes indígenas e, em especial, derivações e adaptações de ritmos e danças africanas. Nasce, efetivamente, de um choque cultural, uma fusão de tradições e compassos diversos, importantes para sua própria popularização e transformação ao longo dos anos; e a concretização de um dos principais símbolos culturais brasileiros.
O mito da unificação brasileira: O falso sentimento de nacionalidade criado por Getúlio Vargas e as consequências desse ato
A busca por uma definição e um reconhecimento da identidade brasileira não é um tema recente. A frágil, mas pertinente, ideia de que o brasileiro não se reconhece como um povo unificado virou tema de planos governamentais e de jogadas de poder que circularam o Brasil durante os anos. Uma delas aconteceu em 1937, quando Getúlio Vargas criou a “Campanha de Nacionalização”.
No momento, o país se encontrava no que ficou conhecido como Era Vargas. Iniciado em 1930, o governo de Getúlio se estabeleceu de forma contraditória, com um golpe de estado, que foi definido por ele mesmo como “Revolução de 1930”. Vargas só deixou o poder em 1945 — maior tempo de governo na história do Brasil República. Seu mandato que, segundo a professora e Doutoranda em Antropologia Social, Priscila Lini, se estabeleceu em um viés populista e com flertes com o nazismo ascendente da época, teve altos e baixos dentro dessa ideia de construção de um Brasil que se reconhecesse como nação.
Nos primeiros sete anos de presidência, Getúlio governou de forma menos autoritária, apesar das tentativas de centralização de poder. Entre 1937 e 1945, porém, iniciou o Estado Novo, momento em que o governo tornou-se ditatorial. Ele conseguiu centralizar o poder governamental e adotar ações que reforçaram essa posição, como decretar o estado de sítio e fechar o Congresso Nacional. Junto disso, construiu uma ideia de nação e do que acreditava que deveria ser o Brasil.
Para Priscila, a Campanha de Nacionalização estava ligada tanto à construção de uma suposta identidade e cultura “verdadeiramente” brasileira, quanto à imagem de um presidente que se importava “verdadeiramente” com seu povo. Considerando, é claro, que este verdadeiramente era baseado na perspectiva de Vargas.
De acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC/FGV), ele criou, após uma série de reformas em departamentos anteriormente criados, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Por meio desse aparato de propagação de suas próprias ideias, Vargas iniciou as propagandas de nacionalização. A divulgação de um único Brasil foi difundida pelo DIP por meio dos grandes meios de comunicação, como as rádios e cartazes, que reforçavam a bandeira nacional e a existência de uma só nação. Outro fato marcante aconteceu em 1937, quando Getúlio mandou queimar as bandeiras estaduais para evidenciar o sentimento nacionalista no lugar do regionalismo.
Por isso, a campanha de nacionalização é reconhecida como uma das formas mais efetivas de homogeneização brasileira. Para o professor e Doutor em História e Sociedade, Fabio Souza, Getúlio promoveu em seu governo o que é denominado embranquecimento cultural (veja no glossário); já que o seu ideal de cultura “verdadeiramente” brasileira era baseado em pensamentos já formulados na história do Brasil que colocavam como foco principal a população que já estava em privilégio. Ou seja, essa política aproveitava-se da ideia de promover uma identidade brasileira “verdadeira”, que “realmente representasse” o nosso povo. Porém, foi de fato utilizada para extinguir línguas originárias, abolir comunidades multiculturais e proibir expressões culturais diversas. Por consequência, retirou do brasileiro sua característica mais forte: a pluralidade.