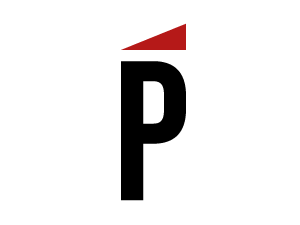Para além dos créditos finais, o cinema molda imaginários e reforça identidades
Texto: Ana Lorena | Breno Kaoru
Fotos: Breno Kaoru
No conforto de nossas casas, ou ocupando poltronas enfileiradas em uma sala escura, a tela pode ser um espelho. Diante dos olhos, uma sequência de frames criada por outro alguém, que não nos conhece, pode contar nossas próprias histórias. As personagens e sinopses muitas vezes proporcionam mais que um simples momento de lazer. Dos irmãos Lumière – pioneiros na exibição de imagens em movimento – ao streaming, o cinema e o audiovisual abrem espaço para reflexões sobre o mundo e o nosso interior.
O poeta russo Vladimir Maiakóvski, figura importante do movimento Futurista, já alertava no começo do século XX: “a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo”, sinalizando a ideia de que as telas constroem estereótipos e a sociedade os reforçam e não o oposto. Entretanto, tentar entender se é o audiovisual que influencia a sociedade ou a sociedade que influencia o audiovisual, é como tentar descobrir se o ovo ou a galinha veio primeiro.
A relação entre produção e sociedade funciona como ciclo e um ponto a ser destacado é a ideia de representatividade. Ela diz respeito à presença de grupos sociais, principalmente os marginalizados, em espaços públicos, na mídia, na política ou em outros contextos, criando símbolos e referências que fortalecem a autoestima de pessoas que fazem parte desses grupos. É através dela que surge a identificação.
Com poder de influência nas mãos, o cinema e o audiovisual conseguem transformar, seja pelo lado bom ou ruim, a percepção das pessoas sobre minorias sociais por meio dessa representatividade – ou mesmo da falta dela.
Na era do streaming, com grandes catálogos de filmes e séries ao nosso alcance, produções como Sex Education (2019) e Brooklyn Nine-Nine (2013) abordam temas sensíveis, como homofobia e racismo, junto ao cotidiano dos personagens. Assim, expõem a diversidade de pessoas que podem ocupar lugares de destaque.
O filme Pantera Negra (2018) também faz isso. O primeiro herói negro a protagonizar as grandes telas num local de destaque no universo Marvel mostrou para as crianças negras que elas podem ser protagonistas de suas vidas e buscar suas aspirações com confiança assim como T’Challa, o homem por trás da máscara.
Halle Bailey, atriz negra escalada no live-action Pequena Sereia (2023) para interpretar a protagonista Ariel, personagem branca na animação original, levou a magia da Disney para meninas que viam, pela primeira vez, em telas de cinema, uma princesa igual a elas.
A professora de Pedagogia e ativista em debates raciais, Bartolina Catanante, ou apenas Bartô, de 62 anos, é idealizadora do projeto Olubayô, que exibe obras cinematográficas em comunidades negras e quilombolas de Campo Grande. Ela reforça a representação limitante do povo negro no audiovisual. “A história nos mostrou que negros no Brasil eram os que apanhavam, eram amarrados no tronco ou fugiam para não trabalhar. Não nos colocaram a visão de que os negros fugiam por busca da sua liberdade”.

As obras cinematográfica apresentadas no projeto são todas produzidas por cineastas negros. Ao fim da exibição, rola um debate sobre identificação e sobre o filme mostrado. O filme Bonita (2022), de Mariana França, por exemplo, conta a história de três personagens negras de diferentes gerações, que lutam pela aceitação de si mesmas.
Além de mulheres negras que se identificaram com as protagonistas, muitas crianças também se viram nas telas. “É um filme que as crianças se identificam muitíssimo, assim como as mães, pais e avós, porque são os conflitos vividos na família que vem e ganham tela”, conta Bartô. A mensagem do filme também é traduzida nas palavras de Bartô. “Se eu nascer da próxima vez, eu quero nascer uma mulher negra bonita. Uma mulher negra bonita”.
Se eu nascer da próxima vez, eu quero nascer uma mulher negra bonita. Uma mulher negra bonita
Romilda Pizani, 48 anos, atriz e ativista negra, também é uma das organizadoras de Olubayô e viu em Bonita parte de sua luta. “Esse filme traz exatamente o que nós chamamos de solidão da mulher negra e o que as atinge, o que as toca. É nesse lugar que eu me vejo e que eu me vi, onde eu me identifiquei”.

Romilda, diz que quando menina, as telonas não refletiam suas indagações, cor e cabelo. “Eu queria ter uma bota da Xuxa. Todas as crianças tinham. E eu queria ter. Até que minha mãe me deu uma bota da Xuxa. Quando calcei e fui para a escola, virei chacota, porque se eu estava com a bota, eu queria ser uma paquita, e não tinha paquita negra”.
A atriz lembra que as referências de pessoas e personagens negras ficavam sempre em segundo plano, principalmente em produções para a TV aberta. “O que tinha era o Mussum e alguns personagens negros que sempre foram muito desclassificados, muito subjugados, eram essas as referências”.
Romilda, com o “histórico de muitas Marias”, cresceu com a falta de letramento racial da família, de referências positivas nos veículos de mídia e não teve autoestima em grande parte da vida. “Eu sou uma mulher preta, fui uma criança preta, não tive muitos amigos na escola. Não fui rainha da primavera, não dancei quadrilha porque ninguém queria dançar comigo e não participei dos desfiles. A autoestima e o autoconhecimento vieram muito depois, com a minha ida para o movimento negro”.
Conta, com alívio, que as filhas não vivem o mesmo cenário, e que ele mudou positivamente ao longo do tempo. Um maluco no pedaço (1990) e Eu, a patroa e as crianças (2001) são produções que retratam a rotina de famílias afro-americanas e sua negritude de forma sutil na TV aberta, por exemplo.
Romilda defende que as mudanças de representação no audiovisual devem ser incentivadas. “Para mim, falar da arte é como falar da questão das cotas universitárias. Existe uma universidade e uma sociedade antes da cota e uma outra sociedade, pós-cota. E o mesmo acontece com o audiovisual”.
Discutir identidade não é uma tarefa fácil, é um conceito que se refere ao modo como uma pessoa ou um grupo se define, com base em características, valores, crenças e traços. Quando pensamos em coletividade, a identidade cultural caracteriza um grupo pelo conjunto de costumes, símbolos e práticas em que as pessoas podem se reconhecer como parte desse grupo.
O sociólogo Stuart Hall, em sua obra sobre identidade cultural e diáspora, defende que “as identidades culturais são os pontos de identificação que se concretizam nos discursos da história e da cultura”. Então, não são uma essência, mas um posicionamento.
Aos 27 anos, Carlos Yukio, jornalista e estudante de Audiovisual, não se lembra de crescer com referências positivas de personagens e histórias da comunidade LGBTQIAPN+, da qual faz parte. Quando começou a cursar audiovisual, percebeu que a coisa era mais complexa. “Os personagens gays eram colocados para alívio cômico e sexual. É uma coisa que entrou no imaginário coletivo. Acham que pessoas gays são os palhacinhos da turma. Aí que está o perigo e também a parte boa do audiovisual. A gente constrói imaginários coletivos”.

Eddie Redmayne interpretou Lili Elbe, uma mulher transexual em A Garota Dinamarquesa (2015); Rodrigo Santoro interpretou Lady Di em Carandiru (2003) e, recentemente, a série coreana Round 6 (2021) escalou o ator Park Sung-hoon para interpretar Hyun-ju (ou jogadora 120). O que todos têm em comum? Os três atores são homens cisgêneros interpretando pessoas trans.
Eddie Redmayne interpretou Lili Elbe, uma mulher transexual em A Garota Dinamarquesa (2015); Rodrigo Santoro interpretou Lady Di em Carandiru (2003) e, recentemente, a série coreana Round 6 (2021) escalou o ator Park Sung-hoon para interpretar Hyun-ju (ou jogadora 120). O que todos têm em comum? Os três atores são homens cisgêneros interpretando pessoas trans.
O cineasta Jean-Luc Godard diz que “não é preciso fazer filmes políticos, mas é preciso fazer filmes politicamente”, isso porque cada palavra, escolha de elenco e enquadramento é uma escolha, portanto um ato político.
Segundo o Trans Murder Monitoring, projeto que monitora assassinatos de pessoas da comunidade trans, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo desde 2008, com 30% dos casos mundiais. Um dado importante para qualquer produção cinematográfica e/ou audiovisual que se proponha acessar o universo LGBTQIAPN+.
Minha mãe é uma peça (2013) é a franquia do filme brasileiro de maior bilheteria no país e gira em torno da história de Dona Hermínia, interpretada pelo próprio filho Paulo Gustavo, ator gay, e sua família. “É muito paradoxal a maior bilheteria do cinema brasileiro ser um filme de um homem gay contando uma história que continha um personagem gay, com ele mesmo fazendo a própria mãe travestido de mulher num país que mais mata pessoas trans no mundo. Para mim, é fascinante”, analisa Carlos.
Para o estudante de Audiovisual, pessoas LGBTQIAPN+, assim como outras minorias sociais, podem ocupar mais espaços no audiovisual por meio de políticas públicas, para poderem contar suas próprias histórias e vivências. “Tem que ter essa abertura para essas pessoas ocuparem os espaços e tornar o sistema cada vez mais democrático. Não dá pra ter Rodrigo Santoro fazendo Lady Di pra sempre e as mulheres trans continuarem na prostituição. Alguém tem que chutar a porta, senão a gente fica parado no mesmo lugar”.
Alguém tem que chutar a porta, senão a gente fica parado no mesmo lugar
Gabriele Peres, 23 anos, começou a assistir o seriado Heartbreak High (2022) enquanto realizava os longos testes psiquiátricos de diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista. Ela viu na protagonista autista Quinni Gallagher-Jones similaridades comportamentais, o que ressaltou suas suspeitas. O resultado saiu: autismo nível 1 de suporte, o que significa dificuldades em comunicação, socialização e comportamentos que não a impedem de realizar suas atividades de forma independente.

Saber que a atriz que interpreta Quinni, Chloé Hayden, também é autista ajudou Gabriele a interpretar e entender a personagem, tornando-a ainda mais real. “Tem aquela voz na cabeça que fala ‘será que eu estou fingindo?’. Todas as outras coisas que retratavam o autismo eram muito estereotipadas. Ela foi uma personagem que me ajudou muito, porque eu comecei a ver as similaridades e também me entender nessa transição”, explica Gabriele.
Situações que Quinn passa na série, como seguir regras pessoais e não ser compreendida pelos amigos, também é algo que Gabriele relata. “As pessoas brigavam comigo. Eu sempre tentei mudar. E quando veio o diagnóstico e pude ver uma uma personagem que teve as mesmas experiências, eu consegui ver que não era minha culpa”.
Para o professor de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Felipe Bonfim, 40 anos, o cinema não é só produção audiovisual. Por meio das telas, ele consegue falar com um local mais íntimo das pessoas, que um simples diálogo jamais alcançaria.
“As narrativas e histórias tocam profundamente em questões que estão dentro da gente. Se você não se identifica com a história ou personagens de um filme, provavelmente é porque aquilo não toca em questões pungentes que são importantes para a sua história de vida”, explica o professor.

As pautas sociais e políticas no cinema, nem sempre são feitas de forma explícita, e a personagem geralmente não necessita afirmar constantemente quem é. Ele apenas é. Heartbreak High (2022) aborda questões como neurodivergência, transtornos mentais e sexualidade de maneira natural, sem transformar essas pautas em discursos martelados ou panfletários.
Vingança e Castigo (2021) é outro exemplo: o elenco principal do filme é inteiramente composto por atrizes e atores negros, que destacam figuras históricas negras no Velho Oeste dos Estados Unidos, sem, necessariamente, focar diretamente no racismo da época. “Chegou o momento em que as personagens se afirmam e não precisam ir à luta para disputar o terreno”, comenta Bonfim
Chegou o momento em que as personagens se afirmam e não precisam ir à luta para disputar o terreno
O professor comenta que os filmes trabalham “com as entranhas”, nos marcando internamente, com “a capacidade que o filme tem de tocar a nossa história de vida, marcar a nossa memória, a nossa lembrança”.







Muito mais que imagens em movimento e sons sobrepostos que duram algumas horas, o cinema e o audiovisual podem resgatar reflexos de quem somos e de como nos enxergamos, deixando rastros que vão além dos créditos finais.