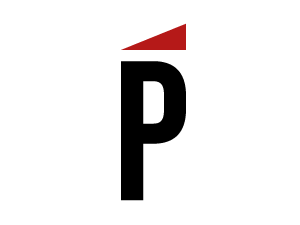Enquanto a história fala em descobrimento, a busca incansável por uma identidade brasileira esbarra em um processo histórico de violência
Texto: Dayranny Amorim | Gabriel Barbosa | Grazielly Marangon
Ilustração: Grazielly Marangon
Você já deve ter ouvido alguém falar que é descendente de italianos, portugueses, espanhóis, holandeses ou até mesmo alemães, e pode ser verdade. Porém, quando esta questão é levantada no Brasil, é impossível não chegar em uma palavra frequente na história brasileira, a conhecida miscigenação ou mestiçagem. Estudo liderado por pesquisadoras/es da Universidade de São Paulo (USP) apresenta o genoma completo de 2.723 pessoas de todas as regiões do Brasil, de Norte a Sul, e conclui que a população brasileira, de fato, carrega uma herança diversa.
Em média, a herança genética brasileira é 60% europeia, 27% africana e 13% indígena. Números que, obviamente, não representam a totalidade do povo brasileiro, mas indicam direcionamentos e abrem proposições reflexivas a partir de uma amostragem significativa, que no caso desta pesquisa, inclui também a região Norte, desconsiderada em outras pesquisas.
Segundo o professor e doutor em História e Sociedade, Fabio Souza, o Brasil foi constituído como uma realidade miscigenada a partir do momento em que houve a relação entre europeus, comunidades originárias e africanos. Porém, existem ideias contraditórias quanto à questão. Uma delas é a de que a miscigenação, no Brasil, possa encobrir uma estrutura racista. O enquadramento social da miscigenação brasileira é complexo, e a maneira como ela é vista passa por mudanças ao longo dos anos. Negativa quando propõe o embranquecimento do país; necessária, quando, equivocadamente, observa o crescimento a partir do uso de mão-de-obra barata; inevitável, quando serve para analisar o processo de formação histórica e social, entre outras. É impossível desconectá-la, porém, do racismo, da violência e do apagamento dos povos indígenas e africanos no Brasil. Nossas estruturas sociais, ainda, corroboram para que esses grupos sofram com as consequências dessas intolerâncias, que já estavam presentes lá atrás, e se mantêm até hoje.
No início, com a colonização e o escravismo em seu momento mais forte, a mestiçagem aconteceu por meio da violência; escravizadas negras e indígenas eram estupradas, engravidadas, forçadas a terem uma prole que, futuramente, seria marginalizada e não reconhecida como filho legítimo dos agressores. Uma parte da população que, naquele momento, não se enquadrava nos critérios sociais estabelecidos.

Com o passar dos anos, a classe intelectual começou a discutir os males do processo de mestiçagem para o que seria o futuro do Brasil. Mais uma vez, essas pessoas que não se enquadravam em papéis estabelecidos, foram identificadas como um mal emergente que prejudicava os planos futuros do país: um Brasil branco nos moldes europeus.
A professora e doutoranda em Antropologia Social, Priscila Lini, aponta o Congresso Universal das Raças, de 1911, como um marco dessa discussão. Nele, o jurista e historiador Oliveira Viana e o médico e cientista João Baptista Lacerda, propuseram um plano para que o Brasil se tornasse majoritariamente branco em três ou quatro gerações.
Por fim, então, a literatura começa a retratar essa mistura como algo inevitável, e isso acontece quando Gilberto Freyre lança, em 1933, o livro Casa Grande e Senzala, que propõe uma visão diferente da miscigenação: agora, os povos pretos e indígenas não são mais considerados uma mazela para o que seria a nação brasileira, mas sim partes essenciais de sua formação. Com uma participação, contudo, bastante específica.
A obra de Freyre contribuiu para a consolidação do mito da democracia racial (veja no glossário). Ele retratou os portugueses, por exemplo, como protagonistas benevolentes, adaptáveis e predispostos à colonização; os escravizados como dóceis à exploração; e os indígenas como selvagens. Essa visão foi responsável por moldar a ideia de que a escravidão foi o pilar formativo do povo brasileiro, com uma parte da população disponível para o trabalho pesado.
Entre Gabrielas
Em Gabriela, Cravo e Canela, Jorge Amado personifica de forma explícita o imaginário brasileiro criado em cima da população negra, mais especificamente da mulher negra. A personagem, figura principal da narrativa (não é à toa que a obra leva o seu nome), carrega em si mesma estereótipos que perpassam, e ultrapassam, a literatura. Ela se torna, então, símbolo máximo do imaginário construído sobre a miscigenação ou mestiçagem no Brasil: uma mulher despreocupada com as definições sociais de matrimônio e de imagem, com seus cabelos bagunçados, vestidos curtos, os pés descalços, e que emana sensualidade. Além disso, uma grande cozinheira e perfeita dona de casa.
Gabriela personifica a ideia de Gilberto Freyre: pessoas racializadas possuem naturalmente uma sensualidade exaltada, tem conexão com o misticismo e uma compassividade nata à servidão (mesmo que velada).
Mais de trinta anos depois da publicação da obra de Freyre, em um momento em que o debate sobre a miscigenação ganhava novos rumos, Florestan Fernandes, em 1965, aborda o tema das relações étnicas novamente. Dessa vez com um outro olhar, o do ajustamento racial (veja no glossário), explicando os obstáculos da inserção dos negros na sociedade pós-industrial brasileira, como o uso da mão-de-obra escrava, o atraso para o progresso e a civilização – perspectiva vinda da exclusão social e da marginalização dos escravizados que foram libertos com a Lei Áurea, sem nenhuma condição digna de vida.
Diferente de Freyre, Florestan acredita que não há democracia racial no Brasil. Ele indica essa ideia como uma amarra social, em que o mundo dito moderno, replica apenas os padrões tradicionais escravagistas. A ideia de uma sociedade democrática, portanto, era utópica, já que os negros não tinham nem como sobreviver, muito menos autonomia política e econômica.
O professor Fabio ressalta ainda que a violência não aconteceu apenas de forma física e psicológica, mas foi também cultural. “Essa população foi colocada à margem da sociedade, e novamente a população branca [estava] nos espaços de poder, e se apossando das culturas dos povos supracitados, para se manterem como elite”, analisa.
13% indígena?
Como explicar que um território com milhões de indígenas, que depois da vinda dos colonizadores, continha mais de 4 milhões de africanos escravizados, segundo dados históricos do IBGE, se tornou uma população com apenas 13% de herança genética de povos originários e 27% de povos africanos?
Como o Brasil se tornou, geneticamente, mais europeu que indígena ou africano? Como nós, que nascemos em uma terra indigena temos mais DNA estrangeiro do que herança genética da nossa própria terra?
Como o Brasil se tornou, geneticamente, mais europeu que indígena ou africano? Como nós, que nascemos em uma terra indigena temos mais DNA estrangeiro do que herança genética da nossa própria terra?
Como já discutimos, a miscigenação é resultado de cruzamentos biológicos, porém como é possível sobreviver – não apenas os povos, mas também suas culturas –, com um projeto histórico de embranquecimento e marginalização? Olhar para esses dados genéticos é uma maneira de nos informarmos sobre nosso passado, talvez conhecê-lo um pouco mais, porém também nos abre uma porta inquestionável para as consequências históricas do racismo estrutural e das estratégias de invisibilização das nossas populações originárias.
Como sobreviveriam a esses processos? Não o de miscigenação, mas, em especial, os de apagamentos sistemáticos promovidos por políticas de extermínio, escravização e assimilação cultural. Invadir e dizimar não é descobrimento, é uma política de despovoamento.