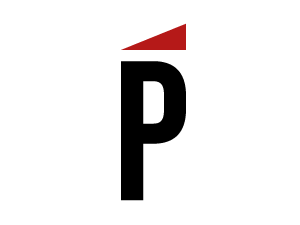Mulheres negras conquistam espaço no Hip Hop local e nacional e empoderam outras gerações de artistas pretos
Texto: Amanda Souza | Gustavo Nascimento | Mellissa Ramos | Polyana Vera
A forma envolvente de flows e beats do rap, as artes grafitadas nos muros, os movimentos impressionantes do break, um estilo único de vestir, correntes de ouro e grillz nos dentes: esse conjunto representativo do Hip Hop tem conquistado e empoderado a juventude negra e periférica. Mais do que apenas música, é um movimento sociocultural que envolve diversas formas de arte. Do BreakDance às batalhas de rima, do grafite aos grandes festivais de rap, o movimento tem crescido cada vez mais ao redor do mundo.
Conhecida como Dj LadyAfroo, Andressa Santos, 27, traz a valorização da cultura negra, indígena e periférica. Dançarina e produtora cultural, é, ainda, co-fundadora das festas Afrogueto e AfrontaMS. Segundo a artista, a ideia dos festivais é um resgate de raízes, com representações do poder que a mulher preta tem. “O nosso rolê é voltado mesmo para a cultura de rua e a cultura Black. Mas não só o Hip Hop em si. Vai muito além, trazendo outros ritmos, como samba e a macumba. Fugindo um pouco do foco, com a intenção de dar visibilidade às pessoas pretas e indígenas dentro desse cenário”, ressalta. A Black Music sempre esteve presente em sua vida com referências como Beyoncé, Rihanna e Karol Conká. Além da música, a dança também a influenciou, desde quando participava do ‘Espaço FNK’, onde teve contato com o Vogue e outras danças contemporâneas.

Em busca de reconhecimento com seu estilo próprio, a DJ tenta reunir a comunidade negra e a comunidade LGBTQIA+. “A gente tem a chance de lançar outros artistas, como a Black Barbie, a Dj Afropaty. Dar oportunidade para as pessoas pretas poderem ocupar os espaços desejados com o estilo apreciado”, afirma. O envolvimento da juventude preta com o mundo do rap e a música apresentada por ela, é motivo de mais liberdade e expressividade visual. “Agora, através desse crescimento da comunidade, eu acho que os jovens também estão podendo usar a roupa que quiserem, o cabelo e outras coisas”, conta. LadyAfroo vê o cenário do rap brasileiro mais feminino, um espaço de visibilidade para cada vez mais mulheres, especialmente, as mulheres negras. “Hoje em dia as mulheres estão entrando cada vez mais em cena no mundo do rap, e o crescimento desse constante movimento tem a tendência de só aumentar”, ressalta.
Popularizado nos guetos da cidade de Nova Iorque, o Hip Hop tem o Rap, o Break Dance ou Breaking e o Grafite Writing como elementos principais e ganhou notoriedade em comunidades negras e latinas marginalizadas, que tinham essa cultura como um escape contra a violência e um meio de protesto para combater a realidade de segregação em que viviam, além de uma forma simples e genuína de diversão. Dados do relatório da Nielsen Music afirmam que, em 2017, pela primeira vez na história o Hip Hop conseguiu ultrapassar o Rock’n’Roll como gênero musical mais ouvido nos Estados Unidos. A pesquisa conta ainda, que 8 dos 10 álbuns mais escutados no planeta são pertencentes a esse gênero, destacando artistas como Drake e Kendrick Lamar.
No Brasil, desde a década de 1980, a cultura Hip Hop começou a ganhar conhecimento com artistas como Sabotage, Helião e Sandrão, e grupos de grande renome como Racionais Mcs e Facção Central. O estilo musical era feito nas favelas e periferias para expor a realidade de discriminação, e a vivência das classes mais pobres. A cena do rap brasileiro sempre foi majoritariamente masculina, porém grandes nomes como Negra Li, Dina Di e Kmila CDD já abriam caminhos para a inserção das mulheres no movimento.
Ainda que timidamente, em 2022, já vemos muitas outras mulheres despontando na cena. Graças ao maior acesso à informação e às redes sociais, amplificado pela internet, jovens mulheres negras que cantam suas vivências, como Drik Barbosa, Karol Conká, Mc Soffia e recentemente, a sul-mato-grossense SoulRa, tem conquistado espaço e escrito seus nomes na história do rap. Ainda que de forma independente, produzem, publicam e divulgam seus trabalhos.
Drip de Negona
A Dj Afropaty, 22, cursa Enfermagem na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e traz o empoderamento preto não só na sua música, mas também na forma de se vestir e se comportar. A artista relata que aos 16 anos, a música clássica lhe abriu portas e a influenciou a entrar no mundo musical. Foi por meio de aulas de Hip Hop no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que expandiu seus conhecimentos tanto na música como na dança. Esse momento foi um divisor de águas, que a fez se encontrar e se identificar com a cultura afro-brasileira e afro-latina. “Eu comecei tocando alguns instrumentos como piano e teclado por causa da igreja, até que comecei a tocar em boates, e fui conhecendo novos estilos como o rap, e entrei em um grupo de danças urbanas”.
A DJ também usa a moda como forma de resistência. A “Afropatricinha” busca mostrar que, assim como meninas brancas e ricas podem se vestir com cores “femininas”, brilho, salto alto e toda a pompa, pessoas negras que, historicamente não tem acesso a esses recursos, também podem. Afropaty comenta que, na cena LGBTQIA+ atual, não vê muitas pessoas negras tendo um local de destaque. “Gosto de mostrar que a gente como preto entra na cena com a mesma visibilidade de uma menina branca, toda maquiada. Eu trago o próprio poder das patricinhas, levantando a força de uma negra de cabelo cacheado Black”.
Em seu Setlist, Afropaty costuma tocar vários estilos, inclusive rap e funk, fugindo do padrão pop, quebrando os tabus que já existem. “Eu aparento uma imagem, mas se você for ouvir o meu gosto musical, vai se surpreender, eu quebro esses estereótipos”, comentou. O público preto da DJ é minoria e, assim como a maioria das pessoas negras do país, ainda possui pouco alcance na área em que trabalha. “Existe um público, mas não é tão valorizado, completamente ao contrário se colocasse uma DJ branca para tocar. É uma dificuldade muito grande que eu sinto. Eu posso entregar tudo de mim, dar o meu melhor, mas ainda tenho receio de colocar rap no meu set e ser preta, ainda pesa muito.” relata.
Maria Luísa Barbosa Martins, 26, defendeu dissertação de mestrado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) sobre as mulheres no rap nacional e o feminismo negro e acredita que é uma tripla resistência à mulher rapper preta periférica. “Ela sofre opressão pelo gênero, classe social e pela raça, e tudo isso vai pesar dentro das suas letras de rap, que tem como principal característica o linguajar mais violento, pois reproduzem a violência que a sociedade impõe sobre elas”, afirma.
Maria Luísa relata sobre o ambiente que teria que ser de lutas raciais, empoderamento, denúncia e desigualdade social, mas o preconceito e o machismo instaurado ainda invisibilizam as mulheres que fazem rap, participam de batalhas de rima e dançam BreakDance. Ela defende que as mulheres negras no rap tenham visibilidade, além de mais apoio da sociedade. “É uma tripla subalternização que eu vejo nessas mulheres, por isso a necessidade de mostrar isso pra alguém e aumentar a visualidade”, comenta.
A representação das minorias
Maria Gabriela Da Costa Santos, a DJ Gabis, conta que se considera a “representação das minorias”. Como mulher acima do peso, a Dj douradense de 26 anos, relata que o Hip Hop sempre esteve presente em seus trabalhos. “Eu sempre colocava no meu set de músicas da cultura Hip Hop e Black Music, e tive uma aceitação boa, que fez com que ficasse ainda mais presente no meu som”.

Assim como Afropaty, Gabis repete a máxima sentida por pessoas negras em todo o Brasil: negros precisam dar sempre mais para receber o mínimo. “Eu sinto que por mais que eu seja uma boa Dj, tenho que dar 200% a mais que qualquer DJ hétero, homem e branco. Eu sou sempre ‘julgada’ porque eu realmente não sou um padrão, pelo contrário, então eu tenho que ser mil vezes melhor”, alega.
O rap é ligado completamente às lutas do povo negro e os elementos que compõem o Hip Hop evidenciam isso. Mas o preconceito ainda é muito presente na sociedade quando o assunto são rappers negros. A artista comenta que já viveu episódios de racismo enquanto se apresentava, mas que soube contornar a situação, fechando a noite com a música “Olho de tigre”, do rapper Djonga, um hino da resistência preta, que grita “fogo nos racistas”. “Foi a primeira vez que toquei essa música e a galera foi à loucura, simplesmente sensação nacional”, completa ela.
Da rua para a rua
Celebrado por levar arte, cor e vida às ruas e avenidas, mas erroneamente confundido com vandalismo, o Grafite sempre dividiu opiniões. Assim como outros elementos do Hip hop, a arte ganhou os muros da cidade de Nova York na década de 1970, como forma de denunciar a exclusão de afro-americanos e imigrantes.
Thallitha Leal, a Tita, 28, está na cena há quase 10 anos e vê o grafite como um estilo de vida. Ela não se vê longe da arte e pretende passar essa paixão para filhos e netos. Única artista sul-mato-grossense a integrar o crew “Corre das Mina”, teve seu primeiro contato com o ofício ainda no ensino médio, quando surgiu o interesse em conhecer o mundo do grafite e do Hip Hop. Foi trocando ideias, técnicas e referências que Tita evoluiu dentro da cena. “Não só com os desenhos, mas como ser humano”, comenta. Ela aprendeu a confiar no processo e em seu talento.
Como no próprio mundo em que vivemos, o Grafite é um movimento predominantemente masculino. O machismo está nas falas, opiniões e palpites. A grafiteira conta que o segredo é confiar no próprio trabalho e não abaixar a cabeça. “Sendo uma mina que está na caminhada há mais tempo, tento passar a visão de que não precisamos do aval do homem para legitimar nosso rolê, temos que ocupar espaços e abrir caminho para as próximas gerações de mulheres grafiteiras”.
Arte de rua, feita para as ruas, o Grafite alcança milhões de pessoas e é, desde sua criação, uma forma de se expressar, comunicar e até protestar contra as desigualdades e injustiças. Para Tita, uma mensagem, uma ilustração ou qualquer que seja a arte grafitada pode tocar e fazer refletir e, levar a mensagem da resistência. Existe um receio da população, que confunde a arte com baderna, mas é uma pequena parcela que não conhece a sua importância como expressão artística e social. “A minha luta não é individual, é coletiva. O Grafite é revolucionário, não só na vida do grafiteiro, mas das pessoas que passam na rua e admiram sua arte. É preciso mudar a ideia das pessoas e valorizar mais essa arte”.
Poesia, voz e protesto
A segunda edição do “Campão Cultural – Festival de Arte, Cultura, Diversidade e Cidadania”, em setembro de 2022, veio para valorizar e divulgar nossas histórias e heranças culturais, informar e tornar ainda mais conhecidos nossos artistas sul-mato-grossenses. Toda cultura é viva, dinâmica e diversificada e, por isso mesmo, as transformações são constantes. Este ano o festival trouxe para a população, de forma gratuita, desde oficinas de artesanato até a oportunidade de ter contato com artistas nacionais.
Isabelle Ramos, 26 anos, poetisa e jurada da batalha de Slam do Campão Cultural, enfatizou a importância de trazer essa cultura para a sociedade. “Fazer algo que gostamos pode funcionar como válvula de escape perante todos os nossos sofrimentos, e o Slam é uma cultura de periferia. Ter a oportunidade de trazer isso para o centro da cidade, em uma das praças principais da capital, é maravilhoso. As pessoas que nos silenciam ou que não gostam, terão que escutar”, completou. O slam é um espaço livre e democrático para artistas protestarem e resistirem através da poesia. Local de fala e escuta, tratando de temas que vão desde política até natureza, família e sociedade, têm trazido ainda visibilidade para pautas feministas, negras e indígenas, em lugares que nem sempre estes assuntos têm espaço.

Já para Leandro Marques, 39 anos, organizador do Campão, o evento traz para a juventude atual empoderamento e uma oportunidade de reencontro com a sua cultura. “A partir do momento que você conhece sua cultura, o lugar que você habita e a história desse lugar, você começa valorizar mais, um empoderamento total, o orgulho daqui aumenta muito, e você acredita que vamos colher muitas coisas incríveis com essas sementes que estão sendo plantadas nesses primeiros festivais do Campão Cultural aqui em Campo Grande”, ressalta. Muito além do rap e das batalhas de rima, o movimento Hip Hop engloba também a dança, moda, grafite e todo um estilo de vida que define essa cultura tão importante e relevante hoje em dia.
Glossário
- Flows: Ritmo e som geral da música (voz do cantor, tom, instrumentos).
- Beat: Batida que dá ritmo e velocidade nas batalhas de rima.
- BreakDance: Estilo de dança de rua, originária da cultura hip hop.
- Grillz: Enfeites de metal e até pedras preciosas usadas nos dentes, geralmente por rappers.
- Grafite Writing: Arte na forma de uma inscrição caligrafada, com elaboração mais complexa que a pichação ou desenho pintado.
- Vogue/Ballroom: Movimento que reúne dança, desfile e toda uma cultura de celebração e acolhimento a pessoas negras e LGBTQIA +.
- LGBTQIA+: Sigla que representa orientações sexuais e identidades de gênero, respectivamente lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, Intersexo, assexual e mais.
- Slam Poetry: São competições de poesia recitada por autoria própria, por poetas que defendem sua composição através de performances que contemplam corpo e voz como instrumento no ato de declamar.
- Setlist: Lista com as ordens das músicas, utilizada por músicos, bandas e Djs.
- Crew: grupos ou coletivos de grafiteiros.