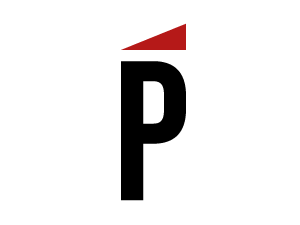Participação feminina no Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra em Mato Grosso do Sul contribui para a construção da identidade rural do estado
Texto: Ana Laura Menegat | Maria Eduarda Schindler
Sandra vestia um xale bordô com mandalas estampadas e trazia o olhar atento, coberto por óculos da mesma cor do tecido que lhe aquecia os ombros. As meias trocadas, uma roxa e a outra com listras brancas e pretas, reforçavam o aconchego espontâneo criado pela voz da sul-mato-grossense. A luz amarelada da sala incidia sobre seus cachos castanhos enquanto a militante e professora universitária lembrava com carinho dos afetos vividos no assentamento “Emerson Rodrigues”, localizado no município de Terenos (MS).

Após viver dois anos em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem Terra (MST) e cinco como assentada, Sandra Procópio da Silva, 55, descobriu um câncer de mama em 2012 e precisou voltar para a cidade. Algumas famílias assentadas, vizinhas ao lote de Sandra, fizeram uma vaquinha para ajudá-la no tratamento. Com o pouco que tinham, conseguiram plantar ainda mais esperança no corpo-terra da amiga. “Quando eu fiquei doente, teve um dia que chegou [em casa] uma militante, uma pessoa do assentamento. Foi tão bonito. Ela foi tirando da sacolinha de plástico, moedas, moedas, moedas. Um real, cinco reais, dez reais, aquilo ali deu R$ 1200 em moedas e notas de cinco e dois reais. Foi extremamente emocionante”, conta.
Luci Dalva Maria de Souza, 45, assentada em Terenos e professora na Secretaria de Educação do Estado de MS (SED) em Campo Grande, destaca o sentimento de comunidade como uma das coisas mais lindas na luta camponesa. Ela conta que quando se mudou para o acampamento viu famílias grandes, com quatro filhos ou mais, dividirem um único pacote de arroz, mesmo sem saber se os filhos teriam o que comer no dia seguinte. Luci carrega consigo o amor e os ensinamentos de Dona Ana, que a fortaleceu e não a deixou desistir do acampamento. Ana Alves Ferreira do Nascimento, 57, é movida pela fé em Deus contra a pressão policial. Fechou estradas, defendeu seus direitos e hoje é feliz em seu lote, no coração da fazenda Santa Mônica e a poucos metros de Luci.

Para Alessandra Morais Silva, 44, a vivência desse sentimento aconteceu por meio do grupo de teatro “Utopia” e pela adoção de filhos e filhas da luta. Ale, como é conhecida, abraçou com unhas, dentes, garras e raízes sua oportunidade de ter um pedaço de terra e fez disso um espetáculo. Vê a cultura como uma forma de desenvolvimento pessoal e ascensão social, além de fortalecer os laços no assentamento “17 de Abril” em Nova Andradina (MS), onde mora. Além das artes, a paranaense é apaixonada por relações humanas e, sem nenhum filho ou filha paridos, decidiu nomear-se “mãe de luta” das crianças Sem Terrinha que atravessaram seu caminho, como a menina Helloa, que faleceu aos 20 anos, mas que aos sete argumentava contra falas machistas. Essas “filhas e filhos da luta”, carregam suas famílias de útero consigo, mas ganham mais mães, pais, irmãos e irmãs pela força da vida na militância.

Vida no assentamento e militância no MST
A luta pelo reconhecimento e valorização da identidade assentada inicia antes da primeira cerca rompida ou do primeiro acampamento montado; começa com a compreensão da importância atribuída à terra na formação da comunidade e da pessoa como cidadã. Luci cresceu ouvindo a mãe falar sobre o cuidado com a terra e com isso foi construindo um afeto que hoje entende como parte da sua identidade. Quando decidiu acampar, não sabia como iria viver durante esse período nem o tempo que iria durar. A professora conta que levou pregos, lona e comida para um mês, deixou de pagar algumas contas, vendeu algumas coisas da casa, e se mudou definitivamente para o acampamento. “Eu me sinto mais livre para ser quem eu sou, na minha essência, me sinto dona de mim e mais empoderada”. Ser acampada, mostrou uma realidade que Luci não acreditava ser capaz de viver um dia e permitiu romper com os estereótipos que a vida assentada tem.
Os acampamentos são caracterizados por uma luta intensa pela terra, neles as pessoas assumem em todo seu corpo a identidade Sem Terra e é nessa busca por um lote que as famílias se fixam ao chão até conseguirem. “Remete a barraco de lona, porque você organiza e junta um grupo que vai acampar na frente de uma fazenda que você está pretendendo que seja destinada para a Reforma Agrária”, explica Sandra. Além da lona, a professora explica que os barracos são feitos com qualquer tipo de material que sirva para montar moradia e continuar na luta. Alguns grupos passam mais de dez anos esperando e é apenas quando a terra chega que essas pessoas passam da condição de acampadas para assentadas, cada uma com seu lote.
Antes de ser assentada, a família de Dona Ana vivia com a barriga vazia e a mente preocupada. Após anos de luta, ela carrega em sua pele retinta e no sorriso continental o amor pela vida no campo e uma fé inabalável. “Deus não me deu só a casinha, eu tenho meu sítio também. Ali eu tenho meu porco, eu crio minha galinha, tenho meu ovo para comer, tenho uma mandioca prantada pra comer. Eu não passo mais fome nem necessidade. Eu não tenho nada, mas depois que eu fui para o Sem Terra, minha filha, eu nunca mais passei necessidade”.

Ale lembra nitidamente do dia em que finalmente o assentamento “17 de Abril” iria nascer. Era 2005 e todos estavam reunidos planejando como seriam as comemorações da abertura das porteiras, mas a atmosfera alegre logo se dissipou. As 2139 famílias que seriam assentadas receberam a notícia de que o grupo japonês Teijin Desenvolvimento Agropecuário Ltda estava recorrendo para permanecer com a posse da “Fazenda Teijin”, em Nova Andradina (MS). Os 100 mil hectares seriam repartidos em dois lotes após a antiga propriedade ser declarada improdutiva pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em 2002. Da totalidade da terra, 67 mil hectares seriam destinados ao MST e à Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul (Fetagri MS), e das 2139 famílias, 507 faziam parte do MST.
“O embate foi muito forte, houve muita pressão. Na época, o grupo ameaçou retirar as indústrias do Brasil caso a gente ganhasse a terra. A estratégia da gente foi ocupar a fazenda, fizemos guarita de saco de areia e fechamos as entradas”, lembra Ale. Ale conta que receberam muitas ameaças, mas em nenhum momento houve violência. Um dos meios que o Grupo Teijin encontrou para justificar a direito a permanência da posse da fazenda foram cerca das cinco mil cabeças de gado que ainda estavam no local. Como forma de contornar a situação, as famílias ameaçaram soltar os animais na rodovia caso os expulsassem da propriedade.
Após um ano das famílias abraçarem incessantemente o combate, o Grupo Teijin retirou os animais da fazenda e, na época, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ellen Gracie, suspendeu a liminar que interrompia a realização do assentamento e devolvia a terra aos antigos donos. Assim, surgiu o assentamento “17 de Abril”, dando a chance das 507 famílias do MST proporcionarem à terra do sudeste do Mato Grosso do Sul um tratamento mais adequado.
Para ela, não haveria outro nome mais justo para dar ao assentamento, já que a data carrega um significado de resistência para quem participou desse ato. 17 de abril é o dia destinado, internacionalmente, à luta dos trabalhadores do campo e Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, em memória ao Massacre de Eldorado do Carajás, marcado pelo assassinato de 19 Sem Terras.
Identidade Sem Terra
O sentimento de pertencimento e de se reconhecer em um espaço ou grupo é o que Luci coloca como o principal fator na militância. Ela não se entende apenas como assentada, mas também como Sem Terra, mesmo após conquistar seu lote. A professora carrega com orgulho sua vivência e vê essa identidade também como coletiva, porque ainda existe luta. Sandra sente o assentamento como possibilidade de reconquistar e reconstruir a própria humanidade. “O Movimento Sem Terra e os movimentos sociais dos quais eu vim me fizeram pensar e sentir, e experimentar pequenos pedaços do mundo que eu acredito”.

Ale defende que na luta de classes, uma pessoa não existe de forma individual e que é o todo que compõe sua identidade. “Eu só passei a existir quando eu passei a fazer parte do coletivo do movimento pela terra”, afirma. Nessa perspectiva, Sandra relaciona essa identificação com processos de reflexão e consciência. “Acho que hoje a gente precisa se perguntar mais qual planeta a gente gostaria de deixar para as próximas gerações. Em nome do capital, a vida fica em último lugar, e a gente corre o risco de produzir novas gerações que não saibam mais plantar comida, que acham que tudo que essa sociedade produz, pode ser encontrado nos supermercados ou nas lojas”, enfatiza a pesquisadora.

Sandra entende que só é possível conhecer plenamente uma realidade quando se vive ela de perto, com os pés no chão, e mesmo morando na cidade, ainda carrega sua identidade assentada, que a faz questionar o consumo excessivo de recursos naturais e humanos. “Conseguir perceber a humanidade que tem por trás dos alimentos, torna a gente um ser humano mais conectado com a terra, com a vida, com a natureza. Entender que a gente está aqui só de passagem, mas nesse tempo a gente não precisa domar a terra no sentido brutal com que o capitalismo ensinou a gente a fazer”. A terra, apesar de selvagem e indomável, é um ser vivo organizado. Ela precisa de cuidado, consciência e planejamento. Se faz casa, fruto e solo de disputas. Na visão de Luci, ser mulher assentada significa buscar a liberdade. “É resistência, no MS principalmente, porque estamos no estado do agro e do boi e eu sinto muito a questão do machismo estrutural também”. Para Sandra, isso justifica a importância do MST, pois ele deixa explícito a luta de classes e tensiona o mito do Brasil como um país democrático e igualitário.
Questão de gênero
“Quando eu entrei para o assentamento, eu consegui algo que eu não acreditava mais que eu era capaz, de cuidar dos meus filhos, de gerir uma casa”, conta Luci com sorriso amplo que se expande pelo rosto e esconde os olhos marejados. Nos quintais produtivos dos lotes, onde são plantadas frutas, cultivadas hortas e criados pequenos animais, as mulheres são as donas da vida e dali tiram a maior parte da alimentação da família. Para Sandra, as mulheres mantêm um ritmo de plantio mais preocupado com a terra, com a natureza e com a vida, atuam como garantidoras da comida e preocupadas com o meio ambiente.
No artigo “Se a mulher participar, a gente vai massificar!” publicado no site do MST em janeiro de 2021, as autoras Atiliana Brunetto e Lucineia Freitas explicam como se dá a participação feminina no movimento. Segundo elas, o Setor de Gênero foi criado no Encontro Nacional do MST no ano 2000 em Goiânia (GO), mas apenas em 2002, em Belo Horizonte, as linhas políticas do setor foram aprovadas. Dentre elas, assegurar a participação de 50% de mulheres e 50% de homens nas atividades de formação e capacitação. As autoras elucidam que o passo definitivo rumo à essa paridade de gênero aconteceu em 2005 com a aprovação dessa medida na Direção Nacional e nas demais instâncias do coletivo. Isso fez com que em 2006 a Direção Nacional do MST passasse a ser composta por um homem e uma mulher de cada estado do país.

Além disso, a Instrução Normativa nº 97, de 2018, assegura a posse da terra para a mulher. Apesar dessa busca por igualdade e equidade, os caminhos ainda correm por rios turvos repletos de silenciamentos que reproduzem a lógica patriarcal. Em confrontos com a polícia, as mulheres vão na frente. Ao cuidar do lar, das crianças, da alimentação, as mulheres vão na frente. Silenciadas, as mulheres, mães, camponesas, militantes, vivas, vão na frente. Luci entende que a censura acontece às vezes com apenas um olhar que diz “não fale, quem está falando agora é um homem”. A educadora enfatiza a potência de uma perspectiva feminina, por acreditar que com mulheres em posições de liderança há mais possibilidades de terem seus direitos básicos respeitados.
A história da Reforma Agrária
A agricultura passou por diversas transformações ao longo da história do Brasil. Em 1850 foi implantada a primeira Lei de Terras, convertendo a terra em mercadoria e dando a possibilidade aos latifundiários de garantirem a posse de lotes por meio de documentações falsas (grilagem). A questão agrária só voltou a ser pauta nas discussões populares em março de 1964, onde foi elaborado um decreto que desapropriava terras em torno de rodovias federais e as destinava ao propósito da reforma. Porém, a iniciativa veio tarde demais, pois no final do mesmo mês, através de um golpe de Estado, iniciou a Ditadura Militar. Durante esse período institutos foram criados, entre eles o INCRA e o IBRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, respectivamente).
Na década de 80, os movimentos sociais em torno da luta pela terra ganharam força, e o então Presidente, José Sarney, elaborou o PNRA (Plano Nacional da Reforma Agrária). Como as metas de Sarney foram consideradas irreais, logo o plano acabou fracassando. Durante o governo de Fernando Collor, as questões agrárias são deixadas de lado e só retornam em 1996, com a posse de Itamar Franco. Em 1996 é criado o Ministério Extraordinário de Política Fundiária, ao qual é incorporado o INCRA. E, finalmente em 2000 é criado o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), onde o INCRA é definitivamente vinculado.
Durante este processo de efetivação de um sistema que buscava reorganizar a pauta agrária, surgiu o MST. Antes mesmo da consolidação do movimento, camponeses já empreendiam árduas lutas contra latifúndios, mas foi com ele que o assunto ganhou visibilidade e se permitiu ser ouvido pela sociedade. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aponta que no Mato Grosso do Sul, estado regido pelo agronegócio, 27.746 famílias foram abrigadas em 204 assentamentos, devido à movimentação criada pelos movimentos sociais, distribuídos em uma área total de 716.212 hectares.
A luta para além da terra
“A educação mudou tudo na minha vida”, diz Luci ao pensar no ensino que recebeu no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) entre 2008 e 2012. Graduadas na mesma turma, Luci e Ale carregam com orgulho e resistência o diploma de licenciatura em Ciências Sociais. “Eu falo que tem duas Luci, a de antes e a depois do Pronera. Educação é tudo, não mudou só a minha vida, mudou a vida da minha família e das pessoas que estão próximas de mim. Educação me trouxe dignidade”.
O Pronera, criado em 1998, é uma medida que visa a inclusão de pessoas camponesas no sistema educacional. A turma na qual Luci e Ale estudaram foi a única turma de graduação desta medida realizada na UFGD e formou 58 das 60 pessoas aprovadas no vestibular. Para Alzira Menegat, 61, professora do curso de Ciências Sociais da UFGD e desta turma, o projeto é uma conquista fundamental. “Eram pessoas que estavam de certa forma distanciadas da universidade, porque residiam em assentamentos e dificilmente conseguiriam ir para a Universidade todo dia, então o distanciamento era geográfico, mas o distanciamento era também social em termos de poder aquisitivo para cursar um nível superior. E o Pronera viabilizou isso tudo, porque havia oferecimento do alojamento, do alimento, do material pedagógico, então foi fundamental esse recurso”, afirma.
“Considera-se o direito à educação como um dos mais fundamentais direitos humanos, na medida em que contribui decisivamente para a garantia de outros direitos fundamentais. Contudo, para além do direito à educação num sentido mais amplo, o debate contemporâneo se dá em torno dos desafios do direito a uma educação em e para os direitos humanos ou, em outros termos, uma educação para a diversidade. Ou seja, a questão central é até que ponto a ideia de educação “universal” contempla as especificidades e as necessidades dos diversos segmentos sociais, especialmente aqueles histórica e socialmente mais fragilizados e discriminados”, afirmam Alzira e André Luiz Faisting no artigo “Caminhos e Caminhantes da Terra: pessoas assentadas em redes de saberes e parcerias para conquista de direitos.” publicado em 2011 no livro “Direitos Humanos, Diversidade e Movimentos Sociais: um diálogo necessário”.
Luci percebe a importância da iniciativa, mas enfatiza que não é suficiente. “Surge a faculdade pelo Pronera, puxa, que legal, assentado estudando, mas e depois disso? Eu tive que vir para a cidade. Qual o espaço para essas pessoas lá no assentamento, que sonharam, que lutaram para conquistar? Precisa ter políticas que atendam a essa demanda”. O sonho de vida da professora-fruto é poder ficar no assentamento todas as horas de seus dias e não apenas aos finais de semana, como faz atualmente. Ela acredita que é a partir do sentimento de pertencimento e de corresponsabilidade pela terra que as crianças e adolescentes sem terrinha podem criar movimentos, mesmo grudados na terra. Porém, observa uma saída de jovens do campo para as cidades em busca de educação de qualidade e oportunidades de trabalho. Sandra se revolta com a falta de escolas próximas aos assentamentos. “Ainda no Mato Grosso do Sul a educação no campo é menosprezada. As crianças dormem no ônibus, chegam [na escola] com fome e sono, o que prejudica a capacidade de concentração. Tem a questão da falta de segurança, às vezes tem acidente com criança”, reivindica ela. Além das dificuldades educacionais, Luci acredita que o Brasil não possui uma Reforma Agrária efetiva. Para ela, a luta não se limita à conquista da terra, a vida dentro dos assentamentos também requer resistência, já que infraestruturas, como acesso a estradas, saúde e educação, não são tratadas como prioridade pelo poder público.
Além disso, ela enxerga os assentamentos como centrados na figura adulta e masculina. Apesar do MST realizar a Jornada dos Sem Terrinha, próximo ao 12 de outubro, essas sementes precisam ser espalhadas e semeadas mais intensamente e olhadas de perto. “Os assentamentos precisam pensar em lugares para as crianças, parques, lugares com árvores. As escolas do campo não têm cumprido esse papel, elas poderiam ser escolas abertas aos finais de semana, pensassem projetos que envolvessem os pais e a comunidade. Projetos de agroecologia e reflorestamento envolvendo as crianças”, sugere Sandra.
Esse problema é refletido na qualidade de vida e na ineficiência da distribuição de recursos nos assentamentos. “Eu cansei de ver, por exemplo, mulheres que tinha que plantar quiabo, colher quiabo, pegar um saco de quiabo de 60kg, ir de carriola, andar dois quilômetros com o saco na carriola, parar no ponto, pegar o ônibus, colocar o saco no ônibus, ir para Campo Grande, descer na parada e ficar vendendo”, relata. Ainda, com a falta de recursos, os pequenos agricultores se veem reféns dos agrotóxicos. No assentamento de Luci poucas famílias têm condições de trabalhar com cultivo orgânico. “Algumas pessoas gostariam de não usar agrotóxicos, mas sentem dificuldades em produzir em um solo que já estava precisando de reparos”. Ale adverte que a comunidade se vê obrigada a usar os produtos químicos nas plantações para não ter perda e nem ter prejuízos. No assentamento “17 de Abril”, Ale expõe que nem todos possuem conhecimento do que são os agrotóxicos e onde estão presentes.
Plantar todos os dias, para colher no amanhã
Junto às sementes de maxixe, abóbora, laranja e tantos outros alimentos, as mulheres do campo plantaram sonhos que ainda precisam ser replantados, adubados, aguados e colhidos. Os planos semeados se espalham pelo solo e formam plantações vivas e caminhantes em corpos de mulheres plurais e destemidas. “Acho que são as mulheres que seguram os movimentos sociais em boa medida, porque são muito capazes de gestar e coordenar. A vivência em movimentos sociais é como se a gente estivesse fazendo um treino para o mundo novo, então a gente vai no movimento, se mete de cabeça e tenta radicalizar o sonho que a gente tem. A gente vai lá e briga ‘tem que ser metade homem, metade mulher, se for só homem no plenário a gente não vai’. A gente sobe na cadeira e faz protesto. Então a gente tenta construir as coisas na prática, eu vejo que as mulheres são muito corajosas”, relata Sandra.
Para ela, a luta do MST não pode ser apenas dos povos dos campos, mas deve também englobar o meio urbano. “A gente quer que as pessoas apoiem essa luta do campo, apoiem a Reforma Agrária, para entender que se a cidade não defender os povos do campo, tende a sucumbir e ficar refém da indústria e do mercado”. Essa possibilidade de luta coletiva e de um futuro melhor é o que move Sandra. “São muitas emoções, mas eu diria que é o projeto de uma sociedade anticapitalista o que mais me comove e me faz sonhar”.
Dona Ana sente orgulho da mulher que se tornou e de ter aprendido muitas coisas nos momentos de resistência e crê que esses aprendizados se potencializam por meio dos laços de amizade. “Eu ajudei muitas pessoas, igual a Dalva, e eu tô pronta para ajudar. Eu só não estou pronta para acampar de novo, que aí as forças já estão diminuindo. Enquanto Deus me der vida e saúde eu vou estar por aqui”.