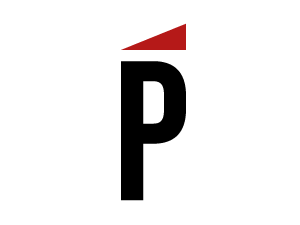Descubra como a Ditadura Militar de 1964 impactou as pessoas e o estado de Mato Grosso do Sul
Texto: Fernanda Sá | Glenda Rodrigues | Maria Gabriela Arcanjo | Murilo Medeiros
Juiz de Fora, Minas Gerais, 31 de março de 1964. Tropas golpistas marcham para o Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde estava o Presidente da República João Goulart. A ordem foi do General Mourão Filho, inconformado com as reformas defendidas por Jango e sob a sombra do fantasma do comunismo. O presidente reage: manda duas tropas do Rio para Minas, mas antes de chegarem ao destino, os soldados cariocas convertem-se ao golpe. O esquema estava montado.
No dia seguinte, o país é tomado de assalto pelos militares e os fatos que se seguiram mancharam de sangue a história do Brasil. No Rio, o Forte de Copacabana é dominado e a sede da União Nacional dos Estudantes (UNE) é incendiada. No Recife, o governador Miguel Arraes é preso. Jango vai para Brasília e depois foge para o Rio Grande do Sul. Uma frota da Marinha dos Estados Unidos se aproxima do litoral do Rio de Janeiro, em apoio ao golpe. Em 2 de abril, a presidência é declarada vaga pelo chefe do Senado, Auro de Moura Andrade. O deputado Ranieri Mazzilli vira presidente interino e o general Costa e Silva se autonomeia comandante-em-Chefe do Exército. O golpe estava dado: uma facada nas costas da democracia brasileira. Ferida ainda aberta.
Enquanto isso, no sul de Mato Grosso
Campo Grande, 31 de março de 1964. A noite já caiu e o aparelho de rádio sintoniza a Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS). Valter Pereira, 19 anos, ouve atento e preocupado às notícias. Ele está afastado do movimento estudantil formal para trabalhar e contribuir com a renda da família, mas nunca abandonou a militância. A emissora gaúcha informa o passo a passo do golpe. A esperança dos democratas, e de Valter, é uma possível resistência que estaria se formando no sul do país, sob comando de Jango. Em vão. A Ditadura Militar tomaria conta do Brasil pelas próximas duas décadas.
No dia seguinte, Valter, que tinha passado a noite em claro, vai ao encontro de amigos para discutir a conjuntura política do país, mas não chega. No centro da cidade, esquina da rua 13 de Maio com a Dom Aquino, estaciona ao seu lado uma caminhonete Rural Willys. Dela, descem três pessoas: um policial militar, um agente do exército e um civil.
Valter é abordado e recebe voz de prisão, mas resiste. “Cadê a ordem de prisão? Se eu estou [sendo] preso, eu quero saber da minha ordem de prisão”. O policial encosta o cano da arma na costela de Valter. “Está aqui”. O militante entende o recado e entra na Rural.




Chegando ao local onde ficaria preso, outro recado macabro. “Você foi preso por ordem superior. Não adianta contratar advogado, o Judiciário não vai funcionar nesse caso. Esta prisão é imprevisível, existe uma revolução que está em curso no país”, avisa o militar
A esperança de logo respirar ares de liberdade vivia no peito de Valter. “A expectativa é de que iríamos ficar um ou dois dias, que seria uma prisão até a nova ordem ser estabelecida”, conta. É aí que a inexperiência do jovem militante contrasta com as vivências de velhos conhecidos da luta por democracia. Quando perguntados sobre o que gostariam que fosse levado de casa para o presídio, a maioria dos presos pediu itens básicos, como roupas e sapatos. Mas Acelino Granja, mais velho, presidente do Sindicato dos Carroceiros e militante do Partido Comunista na época, pediu uma folha de papel almaço e uma caneta. Somente.
Valter ficou surpreso, questionou a escolha e a resposta de Acelino veio como um balde de água fria. “Esta prisão pode ter duração de horas, dias, meses ou anos. Vou requerer o meu auxílio reclusão, que está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho”, disse o sindicalista, descrente de que a liberdade viria rápido. Ao mesmo tempo, Acelino não parecia ter a dimensão do nível de repressão ao qual seria submetido. De acordo com a historiadora Suzana Arakaki, ele foi transferido de Campo Grande para São Paulo, numa viagem de mais de 20 horas, sem nenhum gole d’água.
Lá, viu a face mais sombria e cruel do regime ditatorial. Acelino Granja foi duramente torturado em sessões de interrogatório. Teve um dos braços quebrados e ficou praticamente cego, mas resistiu e foi liberado. Essa história se repetiu por todo o país, inclusive com outros sul-mato-grossenses: pessoas contrárias ao militarismo eram perseguidas, presas e torturadas em interrogatórios.
Valter Pereira teve uma trajetória no cárcere bem menos trágica. Não sofreu maus-tratos físicos e foi solto pouco mais de uma semana após ser preso. Ele ainda seria levado para trás das grades por mais duas vezes, nos anos de 1967 e 1970. Na última prisão, que durou apenas cerca de 12 horas, ele recusou todas as refeições. Um dos militares perguntou o porquê da greve de fome e Valter justificou que era um preso político, exigia instalações adequadas para a reclusão e o direito a um advogado. O oficial respondeu com cinismo. “Você deve dar graças a Deus de ter sido preso em Campo Grande. Se estivesse no DOPS em São Paulo, você estava debaixo de uma chibata ou em um pau de arara”.
Em nenhuma das vezes que foi preso, Valter respondeu a inquérito ou soube quais eram as acusações contra ele. Geralmente, a perseguição começava quando civis (como aquele que estava na primeira prisão) entregavam o nome de pessoas que se opunham ao regime. Os “dedos-duros” integravam a Ação Democrática de Mato Grosso (Ademat), organização de direita que protagonizou a caça aos supostos subversivos e comunistas e era formada principalmente por empresários e produtores rurais.
Em contraposição, Valter Pereira atuou na fundação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Campo Grande durante o regime militar. Entre 1966 e 1979, este foi o único partido político de resistência contra a ditadura. O mdbista exerceu três mandatos parlamentares durante o período de repressão, primeiro foi vereador da capital (1972-1974), depois deputado estadual (1975-1979) e chegou a ser deputado federal (1975 – 1979).
A ditadura se esforçava para parecer uma democracia. Os oposicionistas até podiam se candidatar, mas tinham que manter-se na linha para não perder o cargo e os direitos políticos. Valter classifica o período como uma democradura.
“Havia eleições, mas não havia liberdade. Quando você ousava adentrar assuntos mais polêmicos, corria o risco de ser cassado”. Ele relata que recebia ameaças de integrantes da Ademat. “Às vezes eu tinha que ouvir de um dedo duro que eu ia pagar o preço do que eu estava falando. E eles tinham autoridade na época”.
Após o fim da ditadura, Valter continuou atuante na vida política sul-mato-grossense. Foi deputado federal por dois mandatos, ocupou várias secretarias de estado e foi senador entre 2006 e 2010, após o falecimento de Ramez Tebet, de quem era suplente. Atualmente, aos 80 anos, ele segue vivendo na capital e se empenha nas articulações da pré-candidatura de seu filho Beto Pereira (PSBD) à prefeitura da cidade.



Cabeça em balde d’água
“Um advogado brilhante e um ativista progressista muito importante. Era um intelectual, uma pessoa que nunca tinha se envolvido em Guerrilha”. É assim que Valter Pereira descreve Ricardo Brandão, que tinha 20 anos em 1964, e também foi perseguido e preso pela ditadura. “Só não teve a cabeça afogada num balde d’água, mas o resto das torturas ele sofreu todas”. É nesses termos que Maritza Brandão, defensora pública de 46 anos, se lembra dos relatos do pai sobre os períodos em que esteve no cárcere.
Quando o golpe se concretizou, Ricardo estudava direito na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Militante de causas estudantis, ele estava na sede da UNE quando militares invadiram, depredaram e incendiaram o prédio. Para não ser capturado, ele pulou do segundo andar e quebrou os pés. Ficou escondido no Rio de Janeiro até se curar e, assim que pôde, se refugiou no sul de Mato Grosso, com a família.
Ainda em 1964, foi detido por oficiais do Exército na praça Ary Coelho, em Campo Grande. E diferentemente de Valter, que deveria dar graças a Deus por ter sido preso na capital, aqui Ricardo foi tratado com crueldade. Era mantido seminu, só de cuecas, em uma cela fria e, como se já não bastasse, jogavam água gelada nele. Teve gripe, tosse e, por fim, pneumonia.
De acordo com Maritza, Ricardo só não morreu porque foi salvo pelo médico e também preso político, Alberto Neder. Como estava na cela ao lado, ele passava medicamentos para o estudante.

Foto: Glenda Rodrigues
De Campo Grande, Ricardo foi transferido para o DOPS do Rio de Janeiro. A historiadora Suzana Arakaki teve acesso aos documentos originais dos depoimentos prestados por ele ao Exército. Neles, o preso é questionado sobre sua trajetória no movimento estudantil e atuação como articulista em jornais de Mato Grosso.
De acordo com Suzana, o testemunho de Ricardo começou a se complicar quando ele foi perguntado sobre uma carta que enviou a José Roberto de Vasconcelos, o Vasco, em abril de 1963. Eles trocavam exemplares de jornais e conversavam sobre a vida política do estado. Não se sabe como a carta foi parar nas mãos dos militares. Vasco tinha sido eleito vereador da cidade de Campo Grande em 1957 e era editor do Jornal ‘O Democrata’, destruído por integrantes da Ademat. As impressoras foram quebradas e outros equipamentos atirados em um córrego da Rua Maracajú.
Ao fim do depoimento, os militares foram enfáticos.
“com referência ao tratamento que lhe foi dispensado neste Departamento o declarante nada tem a dizer que possa ser considerado como reclamação, não tendo sido o mesmo sofrido qualquer tipo de constrangimento físico ou moral. E mais não disse.”
À Maritza, Ricardo contou outra versão. “Pendurado em pau de arara, tapas, agressões físicas, como forma de delação. [Mas] eu acredito que ele nunca delatou ninguém”, declara com os olhos marejados. E talvez por isso tenha sofrido tanto. A filha conta que ele relatava ter sido torturado todas as vezes em que foi preso. Mas resistiu e sobreviveu à ditadura, à perseguição e à crueldade dos algozes.




Ricardo Brandão morreu em 1996, vítima de um infarto fulminante, mas continua vivo nas inúmeras homenagens que recebeu após a morte. Foram batizados com o seu nome: Avenida em Campo Grande, presídio e rua em Ponta Porã, Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mato Grosso do Sul e medalha conferida pela Assembleia Legislativa. No bairro ‘Jardim dos Estados’, colorida por flores cor-de-rosa, a Avenida Ricardo Brandão fica a apenas 500 metros de distância da rua Alberto Neder, o médico que salvou sua vida na prisão.
Para não dizer que não falei delas
Se os registros da história da Ditadura Militar no Mato Grosso do Sul já são escassos, quando se trata da luta (ou do apoio) de mulheres neste período, essa problemática aumenta.
No livro ‘Mulheres na ditadura: femininos em agenciamentos de lutas e resistências’, a historiadora e pesquisadora Suzana Arakaki, uma das organizadoras da obra, explica que os escritos historiográficos feitos por homens ocultaram a presença feminina. Ainda, na época, as mulheres eram pouco participativas nos espaços públicos, o que não significa a falta de ação nos 21 anos que sucederam o golpe.
“Uma espécie de Médicos Sem Fronteiras dos perseguidos”, é assim que o pesquisador Fausto Mato Grosso cita a organização Socorro Vermelho, formada por mulheres, com o objetivo de levar ajuda humanitária às vítimas do regime (e também aos seus familiares). Em Campo Grande, Lygia Pletz Neder (casada com Alberto Neder, já citado aqui) foi a primeira dirigente da causa, logo no início dos anos 1960. Na nota de falecimento de Lygia, seu filho, Carlos Neder declara que a mãe nunca concordou plenamente com todas as opiniões políticas do marido, mas, que apesar disso, se colocou em risco ao fazer parte do Socorro Vermelho e levar ajuda aos perseguidos pelo Estado.

O Socorro Vermelho também prestou serviços aos familiares dessas vítimas. Suzana escreve que, após a prisão de sindicalistas, em geral pessoas pobres, suas famílias ficavam à mercê. “Mesmo com a liberdade, essas pessoas não conseguiam emprego, ninguém queria dar trabalho a comunistas”. Doações de alimentos, remédios, roupas e outros insumos, muitos deles vindos da ajuda solidária de amigos, compunham a rede de apoio formada pelas mulheres. Para além da vida, a entidade também tinha um espaço no cemitério Parque das Primaveras, dedicado aos entes cujos familiares não podiam arcar com as despesas de um funeral.
Falar sobre a luta das mulheres contra a Ditadura Militar no atual Mato Grosso do Sul é também estourar a bolha do centralismo branco. “[A discussão] está além do ser mulher, pois os recortes interseccionais perpassam gênero, raça e etnia”, escreve a cientista social Jheuren de Souza, no artigo ‘Mulheres indígenas e Ditadura Militar Brasileira’.
No ano de 2013, quase 50 anos depois do golpe, foi encontrado o Relatório Figueiredo, documento produzido entre 1967 e 1968 pelo procurador Jader de Figueiredo Correia.
O registro, em suas mais de sete mil páginas, documenta crimes cometidos contra os povos indígenas do Brasil: abusos sexuais, assassinatos em massa, escravidão, guerras, torturas, entre outros. Quando se tratava de violações contra as mulheres, contudo, as palavras eram suavizadas.
Aliciamento, defloração, desrespeito, infelicitação, sedução. Essas eram algumas das palavras usadas para se referir à violência de gênero sofrida por mulheres indígenas. O caso de Tereza, da etnia Terena, foi um dos amenizados nas páginas do documento. “Deflorou a índia Tereza do Pôsto Indígena Ipegue, no próprio recinto da sede da Inspetoria”. Assim é relatado o crime cometido por Djalma Mongenot, funcionário do Serviço de Proteção aos Índios.
A tese de defesa de Djalma atesta que a vítima era “já experimentada no comércio sexual em Campo Grande”. É indispensável pontuar que, segundo o documento descoberto em 2013, diversas indígenas eram submetidas à prostituição. “Pela análise dos crimes e dos relatos, dificilmente seria por livre e espontânea vontade dessas mulheres”, aponta Jheuren.
Embora muitas mulheres tenham se envolvido na causa pela defesa da democracia, havia também aquelas que andavam na contramão. Em 1964, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, movimento realizado em diversas partes do país e que protestava contra o governo vigente, pedindo socorro aos militares contra a ameaça comunista. Mais tarde, a marcha seria usada pelos próprios militares como justificativa para o golpe.
Mas afinal, onde entram as mulheres na origem da marcha? Segundo um documento redigido por Rodrigues Matias logo após a realização do movimento, a inspiração veio de Irmã Ana de Lurdes, em um encontro com o deputado Cunha Bueno, um dos principais patrocinadores da passeata em São Paulo.
“Nossa Senhora tinha sido ofendida pelas palavras pecaminosas do Presidente da República, em referência ao Rosário, e tudo que havia a fazer era convocar as mulheres de São Paulo para uma grande reunião pública de desagravo ao rosário. Elas compareceriam em massa, Nossa Senhora as escutaria, e Deus teria misericórdia do Brasil”, apelou Lurdes, na reunião.
As palavras de João Goulart, às quais a Irmã Lurdes se refere, são aquelas presentes em um discurso feito na Noite das Cadeiradas, movimento organizado por mulheres contra Leonel Brizola. “O cristianismo nunca foi o escudo para privilégios condenados para o Santo Padre, nem também, brasileiro, os rosários podem ser levantados contra a vontade do povo e as suas aspirações mais legítimas”, disse o então presidente da república.
Após cinquenta anos, aconteceu inclusive, na cidade de Campo Grande, a ‘Marcha da Família com Deus II – O Retorno’, com o intuito de retirar, por meio de uma intervenção militar (termo que parece ter sido esvaziado e negligenciado nos últimos anos), a então presidenta Dilma Rousseff, também presa e torturada pelas mãos da ditadura.
“Um estado que executa lideranças indígenas”
Numa manhã de abril de 1974, Marçal de Souza Tupã-Y, indígena guarani, fazia o relatório mensal do ambulatório de sua comunidade. Ele tinha 54 anos e era uma liderança de projeção internacional que lutava contra a exploração de recursos naturais e expropriação das terras tradicionais do seu povo. Um grupo de ao menos dez indígenas liderados pelo Capitão Narciso, da etnia Kaiowá, e pelo Capitão Ramón Machado da Silva, da etnia Terena, encarregado do inspetor José Sardinha, retirou Marçal do ambulatório à força, rasgou a roupa dele e o espancou.
O Capitão Ramón disse que a disciplina que aplicava nos indígenas ia desde chamar atenção e conversar, até “dar um castiguinho” quando julgava necessário. Todo o processo de julgamento dos indígenas, desde a apuração da conduta, conclusão de que eram inocentes ou culpados e aplicação da punição, estava nas mãos de uma única pessoa. Curiosamente, Ramón era também um indígena, com fácil acesso aos demais, que atuava a mando da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), órgão do Poder Executivo que, na época, era ditatorial.
Esse episódio foi narrado no filme “Terra dos Índios”, de 1979, de Zelito Viana, por meio de entrevistas com diversas lideranças indígenas pelo Brasil, além de servidores atuantes nas aldeias, militares e compradores de terras em reservas indígenas não demarcadas. Marçal inicia a película com uma fala impactante. “Eu creio que vai levantar ou já levantou índios esclarecidos como eu, que levantará a sua voz em prol da sua raça”. O cineasta mostrou a obra ao indígena americano Jimmie Durham, que sentenciou o extermínio dos indígenas. “Esses índios vão morrer todos, porque eles são muito conscientes, eles sabem demais e, quando o índio sabe muito, a sociedade envolvente mata”.

No dia 25 de novembro de 1983, em Antônio João (MS), Marçal de Souza Tupã-Y foi assassinado a tiros dentro de sua casa. Todas as demais lideranças retratadas no filme também foram mortas. Ninguém foi condenado pelo homicídio do líder guarani. A historiadora Suzana Arakaki narra em seu livro ‘Mulheres na Ditadura’, que o governo e a imprensa à época tentaram atribuir uma motivação passional do crime à ex-mulher dele.
A luta de Marçal de Souza Tupã-Y teve um fim trágico durante o regime militar, e casos semelhantes ainda ocorrem no estado democrático de direito. Porém, para o membro do Ministério Público Federal (MPF) em Dourados-MS, o Procurador da República Marco Antonio Delfino de Almeida, o caso de Marçal de Souza teria o mesmo desfecho se ocorresse no regime democrático, pois conflitos agrários são uma realidade em Mato Grosso do Sul. Contudo, ele acredita que se a história de Marçal tivesse ocorrido nos tempos atuais, haveria uma presença maior do estado, com a apuração dos responsáveis pelo crime e não a impunidade dos autores. “Infelizmente nós somos um estado que executa lideranças indígenas”. A matança indígena não foi exclusividade da ditadura. Na última década, outras lideranças também tiveram suas vidas ceifadas em conflitos agrários. Delfino lembra as mortes na terra Guapo’y, em 2020, em Amambai (MS); o caso Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, Guarani-Kaiwoá assassinado em Caarapó (MS), em 2016; e com o caso de Marcos Veron, assassinado em 2003, em Juti (MS).
Edna Silva de Souza é filha de Marçal e tinha 20 anos quando seu pai morreu. Ela também é o elo entre a história de luta dele e a pesquisa de Delfino, que a contatou a partir de 2018, quando ele iniciou um doutorado em História pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Esse contato, inicialmente para compor a sua tese, também despertou a ideia de buscar a anistia política de Marçal de Souza na Comissão de Anistia. Criada pela Lei nº 10.559/2002, essa comissão tem como objetivo analisar requerimentos de fatos relativos à perseguição exclusivamente de caráter político e emitir pareceres que assessorem o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, responsável por tal reconhecimento. A condição de anistiado político tem repercussões econômicas, trabalhistas, previdenciárias e administrativas, como a reparação pecuniária e o reconhecimento de tempo de trabalho durante o período em que esteve obrigado(a) a se afastar em razão de perseguição política. O Procurador da República entende que o governo brasileiro precisa reconhecer, de forma individual, a luta política dos povos indígenas, inclusive da do líder guarani, e por esse motivo o pedido foi feito. Apesar de já acionada a via administrativa, ainda não houve pedido judicial sobre o tema.
O MPF avalia que o autoritarismo da ditadura permite que o Estado seja destinado a interesses privados e não coletivos, principalmente sob a premissa de que quem usa melhor a terra é o latifundiário e não o indígena, sempre visto pela sociedade como o inimigo e agitador. O combate a movimentos sociais, inclusive contra os protestos indígenas, é uma característica intrínseca do regime autoritário pelo qual o Brasil passou.
Negar a humanidade aos povos indígenas não é uma exclusividade brasileira, segundo Delfino. Nesse sentido, a Argentina adotou o discurso da campanha ou conquista do deserto, por meio da qual, no final do século 19, obteve o domínio do pampa e da patagônia, até, então, oficialmente, terra indígena da etnia mapuche. Na mesma linha, o governo brasileiro abraçou o discurso de preencher o suposto vazio amazônico, como se ninguém habitasse naquelas terras. Essas foram iniciativas em países distintos e que confirmam a visão de ambos os governos de anular a humanidade dos povos originários.
O MPF relaciona os resquícios da ditadura presentes na democracia com a falta de justiça de transição, que é a passagem do regime ditatorial para o democrático, apurando e punindo violências que ocorreram no passado, independente do cargo e da idade de quem a praticou. Além disso, a justiça de transição está ligada ao incentivo à memória dos fatos, por meio de museus, por exemplo, para que eles não se repitam. Na Argentina, o movimento #NuncaMás, recentemente retratado no premiado filme ‘Argentina: 1985’, é um exemplo da valorização da memória que se buscou instalar no país para evitar o retorno do regime autoritário.
“Enquanto não houver esse processo de memória, de verdade, a gente tem a tendência de infelizmente fazer um processo intenso de repetição de violações”, enfatiza Delfino. Em Angola, há o Museu Nacional da Escravatura e, na Alemanha, há o Museu do Holocausto, em que são expostas e rememoradas as graves violações contra os direitos humanos. No Brasil, ao revés, foi aprovada a Lei da Anistia para quem cometeu crimes políticos, como os torturadores.
Resquícios da ditadura ainda persistem no país. Para Delfino, a manifestação dos militares sobre decisões políticas na democracia; o episódio de oito de janeiro de 2023, quando os símbolos dos três poderes da república foram invadidos e depredados; e a violência policial durante abordagens, são exemplos de que a Justiça de Transição ainda deve ser implementada, para se buscar a solidez democrática no Brasil.
Reescrevendo a história
Brasil, 39 anos após o fim da Ditadura Militar. A sociedade abomina esse período. Aos militares torturadores, cadeia. Aos presidentes da época, represálias. Aos líderes dos movimentos contra a opressão, estátuas. A história ainda é lembrada, mas como forma de conscientizar a população, do quanto um governo autoritário é prejudicial para a liberdade do brasileiro e hoje, ninguém mais defende a barbárie que foi a ditadura. Essa seria a história que gostaríamos de contar, mas a realidade se desenhou de outra forma.
Brasília, oito de janeiro de 2023. A capital do Brasil é tomada por milhares de pessoas. Não, milhares de golpistas. O que era pra ser apenas mais um dia chuvoso, tornou-se um marco histórico. A cidade foi tomada pela manifestação daqueles que se declararam contrários ao novo presidente, então fizeram uma passeata até o Congresso Nacional. Os “cidadãos de bem”, aqueles que apoiam ‘Deus, Pátria e Família’, invadem o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) e protagonizam um dos maiores ataques à democracia brasileira.
Naquele dia de clima nebuloso no centro do poder federativo brasileiro, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), o Comando Militar do Planalto e a Secretaria de Segurança Pública já haviam notado a estranha movimentação nos acampamentos bolsonaristas montados à frente dos quartéis. Iniciados após a derrota eleitoral do seu mito em 2022, todo o país foi tomado por fanáticos políticos acampados. Dois dias antes do atentado, os golpistas se movimentaram e se concentraram em Brasília, e o número de pessoas que estavam acampadas subiu de 300 para 5500. “As forças armadas vão fazer o que vocês quiserem, eu vou fazer o que vocês querem”, declarava o ex-presidente sobre o que estaria por vir.
No Mato Grosso do Sul, não foi diferente. Centenas de pessoas já estavam acampadas, desde 30 de outubro de 2023, em frente ao Comando Militar do Oeste (CMO), localizado na capital, logo após o resultado das eleições presidenciais. E em seis de janeiro de 2023 partiram rumo à Brasília para se juntar aos outros golpistas que já se encontravam prontos para invadir o Palácio do Planalto.
Quase 60 anos após o início da ditadura no país, milhares de golpistas invadem o centro democratico do Brasil para reivindicar um golpe e pedir a volta do regime militar. Muitos dos que participam, nasceram durante o regime, viveram e experienciaram todo o período e, ainda assim, fecham os olhos e insistem na ideia do ‘fantasma do comunismo’ que motivou o golpe de 64.
Ao final do atentado, os baderneiros, tiveram uma surpresa ingrata, o seu deus havia caído, perdido as eleições e o poder, nem sequer estava no Brasil, e assistiu de camarote seus seguidores também caírem. Detenção e processo criminal foram as consequências para mais de duas mil pessoas só naquele momento. Acima de tudo, o recado dado pelo país, “ditadura nunca mais”. Apesar de fragilizada, a democracia resistiu.
No compasso acelerado do tempo, o Brasil se encontra numa encruzilhada entre a memória dolorosa de uma ditadura que perdurou por décadas e a esperança da democracia. São como dois tempos que se entrelaçam, os dias atuais trazendo as heranças deixadas pelos ‘anos de chumbo’, enquanto olhamos para trás, conscientes dos 21 anos que assombraram o país.
Manifestações sob o olhar dos ditadores da época, como a “Passeata dos Cem Mil”, em 1968, no governo Costa e Silva, e as “Diretas Já”, em 1984, marcam a história do país como símbolos de resistência democrática e uma lembrança poderosa da voz do povo.
Quando consideramos os dias atuais, somos surpreendidos com os desafios de uma democracia ainda em construção. Repressões policiais violentas, ideais que voltam ao período ditatorial e pedidos de intervenções militares, nos trazem à tona as memórias que os anos dissiparam.
Para Valter Pereira, que sentiu na pele os efeitos da ditadura, chega a ser uma ofensa ouvir alguém falando que não houve golpe e sim uma revolução. “Só imbecil ainda sustenta que não teve ditadura. Cassação de mandato, prisões de oponentes, fechamento do congresso, fechamento de assembleias… Isso aí se não foi ditadura …”.
Maritza Brandão também se entristece com a situação do atentado de oito de janeiro de 2023, já que durante sua infância ouvia os relatos de sofrimento de seu pai Ricardo Brandão. “É muito triste o que vem acontecendo no nosso país em relação a, principalmente, esse atentado que aconteceu. É inacreditável que em 2024 ainda tenha possibilidade de que grande parte da população abrace essa causa.”
Ainda assim, há esperanças. A sociedade continua a se organizar, a se manifestar e a reivindicar seus direitos. Movimentos sociais, ativistas e militantes são a força que impulsiona a democracia adiante, e nos lembram que a luta pela liberdade é uma jornada contínua, que não se encerra com a conquista de direitos, mas se renova a cada desafio. Neste embate entre a memória e a esperança, é importante olharmos para trás não apenas de forma reflexiva, mas como um lembrete para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça.