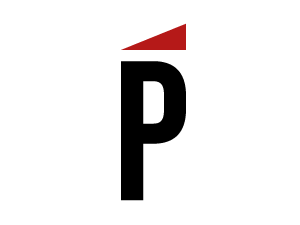A padronização e o controle dos corpos femininos ao longo dos séculos
Texto: Camille Filetto | Rebeca Ferro | Sarai Brauna
Ilustrações: Letícia Vitória Alves
De onde vêm as mulheres?
Não aquela mulher real, com desejos e falhas, mas a que foi moldada para agradar, obedecer e servir, feita para caber em regras preestabelecidas aquém delas. Sociedade, religião, ciência, cultura, mercado desenharam um ideal feminino: a mulher bonita, forte, recatada, sempre calada. Quando ela sai do papel esperado, é julgada. Quando tenta cumpri-lo, se machuca.

Nesta reportagem, propomos andar entre alguns estereótipos e encaixes forçados ao gênero feminino. A histeria, por séculos, foi o rótulo usado para chamar de louca qualquer mulher que ousasse reclamar. A mulher perfeita, criada como exemplo, nunca existiu, e continua sendo cobrada. A sexualidade, de pecado à perigo, virou ferramenta de controle, embora também seja nela que muitas encontram liberdade.
Portanto, a pergunta nunca foi de onde vem ou quem são as mulheres, mas quem determinou o que elas deveriam ser e com quais intenções. Entender isso é o começo da mudança.
Triste, louca ou má
Assim é qualificada toda mulher que se recusa a seguir a velha receita. A mulher que nega o papel de esposa perfeita, filha dócil ou namorada equilibrada logo é vista como ameaça. Se chorar, é frágil demais. Se gritar, é descontrolada. Se questionar, é ingrata. A sociedade não sabe lidar com as mulheres sem enquadrá-las. A histérica. A louca. A fria. A má. Funcionam como um selo, moldado para conter aquilo que ainda não está submetido ou não se submete às normas estabelecidas.
A música de Francisco, El Hombre, é um bom começo da história. Da história da histeria como uma oportunidade de vilanização da figura feminina. Entre o final dos anos 1960 e começo dos anos 1970, uma moradora da rua Engenheiro Alírio de Matos, no bairro Taquarussu, foi capa e manchete de várias matérias de jornais da cidade de Campo Grande, como O Diário da Serra e Correio do Estado. Célia de Souza, na época, tinha entre 40 e 50 anos e trabalhava como babá de filhos de famílias da região que passavam longas horas fora de casa. Algo bem comum na periferia da cidade.
A madeira descascada e o aspecto abandonado da casa onde Célia vivia, pareciam, para muitos, carregar um ar assombrado. Ali, diziam, ocorreu um crime terrível: quatro crianças mortas num suposto ritual de sacrifício. O lugar onde ficava a casa era uma região pantanosa da capital sul-mato-grossense, conhecida como Sapolândia. Essa história se transformou em lenda urbana, e tornou Célia, uma trabalhadora negra, pobre e analfabeta, uma figura quase mítica no imaginário campo-grandense: a bruxa da Sapolândia.
A desumanização das mulheres, contudo, não se inicia nos anos 1960, ela ocorre desde a Idade Média, no mínimo. Desde então, muitas delas são retratadas como monstros, agentes do mal, mulheres que buscam a beleza física por meio de rituais ou como servas de figuras vilanescas superiores. Essa violência simbólica de associá-las à loucura ou à feitiçaria serve muito bem para aqueles que pretendem controlá-las. Incontroláveis, são uma ameaça à ordem estabelecida.
As mulheres bruxas estão inseridas em diversos contextos ao longo da história. Seja por uma decisão que ela tomou e não gostaram, por um conhecimento específico que possui ou quando ela se prioriza no lugar dos outros. De acordo com a psicóloga Karina Brum, as mulheres sempre são alvo de julgamento.
“Principalmente, se estiverem no papel de defender-se, de se justificar; o que também já não é algo saudável. Toda vez que a mulher for fazer algo e tiver que se justificar, o contexto que ela está envolvida tem que ser reavaliado. Mas a mulher bruxa, isso não é de agora. Isso é desde sempre”, argumenta a psicóloga.
Célia foi inocentada pela justiça, assim como seu marido que mal foi mencionado no processo judicial ou pela imprensa da época. No entanto, a cidade não esqueceu o nome de Célia até hoje. A “Bruxa da Sapolândia” continua sendo relembrada em matérias jornalísticas sensacionalistas e descontextualizadas.
A doutoranda em história pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Giovanna Trevelin, explica como o papel da mulher passou por uma transformação significativa no século XIX, especialmente durante a Era Vitoriana.
Segundo ela, “se antes, na Idade Média, os corpos femininos eram queimados na caça às bruxas por desafiar normas sociais e religiosas, no século XIX esses corpos passaram a ser controlados de outra forma. Agora, não se trata mais de eliminar, mas de domesticar”. Isso porque a sociedade e o sistema econômico capitalista passaram a precisar das mulheres para manter a ordem social. Assim, seus corpos foram moldados para servir à nação e ao capital, principalmente através do papel doméstico e materno. Para Trevelin, esse processo está diretamente ligado à construção histórica do que significa ‘ser mulher’ na sociedade.
Se antes, na Idade Média, os corpos femininos eram queimados na caça às bruxas por desafiar normas sociais e religiosas, no século XIX esses corpos passaram a ser controlados de outra forma. Agora, não se trata mais de eliminar, mas de domesticar
Não cause escândalos, especialmente em público. Seja a esposa dedicada, resignada, que cuida da casa e dos filhos, enquanto o marido, a quem deve completa devoção, não volta do trabalho. Supere as expectativas do homem, nunca reclame. Esse era o ideal feminino burguês ocidental do século XIX, responsável por moldar a “mulher de verdade”: branca, saudável, discreta, sexualmente contida e sempre funcional à ordem doméstica.
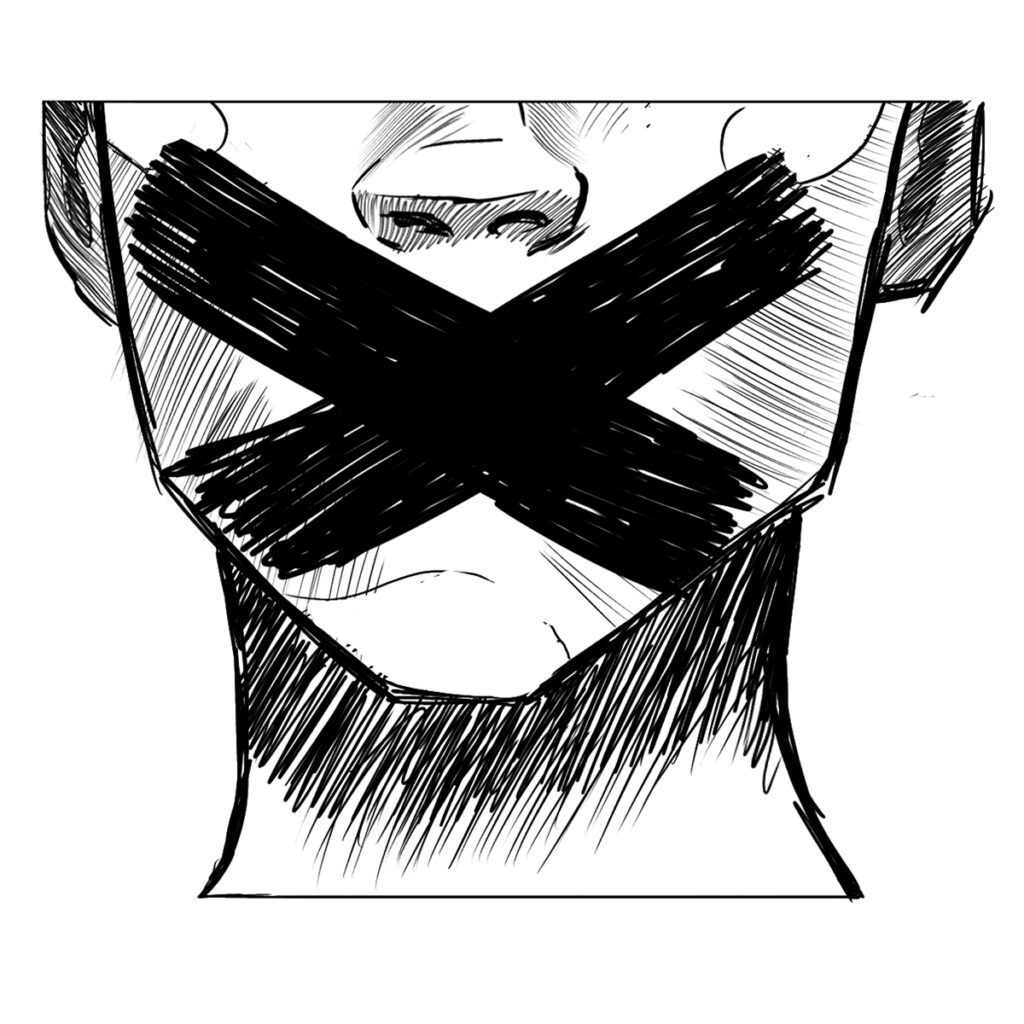
A psicóloga Karina diz que muitas mulheres casadas com homens buscam ajuda psicológica no seu consultório, em especial, porque acreditam que não desempenham bem o papel em suas casas ou por não serem reconhecidas por suas atividades domésticas. Por “não trabalharem” fora, existe uma expectativa de que elas coordenem tudo. “Qual o papel das mulheres? Onde está o homem neste contexto? Ele é provedor, trabalha, sai de casa, traz o sustento para essa família. Então, tem todo o direito de chegar em casa, sentar no sofá, assistir a TV e ser servido”, ironiza.
Giovana complementa que isso acontece porque, historicamente, as mulheres foram afastadas da chance de entender e decidir por si mesmas o que significa ser mulher. Esse afastamento ajuda a manter o homem no centro da sociedade, com mais poder. Segundo ela, as regras da política, da religião e da cultura em geral fortalecem a ideia de que o homem precisa ser forte, viril e o principal dentro da casa e da sociedade.
Você é HISTÉRICA
Toda essa sobrecarga feminina ao longo da história humana está acompanhada da ideia de insanidade, em especial, do excesso de emotividade, sensibilidade e descontrole, que leva à histeria.
A mulher histérica: um termo essencialmente feminino. O conceito de histeria surgiu na Grécia Antiga, relacionado à palavra útero. Acreditava-se que ele era um corpo dentro de outro corpo e causava comportamentos estranhos em mulheres cisgênero: desejo sexual elevado, não performar feminilidade, demonstrar sentimentos demais ou até mesmo tonturas, dores e paralisias, que podiam ser todos levados em consideração para o diagnóstico. Médicos da época tratavam as mulheres a partir de um único diagnóstico, não levando em conta suas particularidades.
O conceito de histeria surgiu na Grécia Antiga, relacionado à palavra útero. Acreditava-se que ele era um corpo dentro de outro corpo e causava comportamentos estranhos em mulheres cisgênero: desejo sexual elevado, não performar feminilidade, demonstrar sentimentos demais ou até mesmo tonturas, dores e paralisias, que podiam ser todos levados em consideração para o diagnóstico
Sigmund Freud, mais adiante, começou a relacionar a repressão sexual com traumas inconscientes, ainda ligando a situação ao conflito das mulheres com sua feminilidade. Ao longo dos séculos surgiram alguns tratamentos para a histeria, entre eles, a massagem pélvica realizada pelos próprios médicos, o que levou à invenção do vibrador como instrumento clínico e estabeleceu a ideia de que a histeria era um problema de descontrole nervoso, uma “doença” dos nervos.
Existem coisas que não podem ser ditas por mulheres. Ser feitas por mulheres. Barreiras que não podem ser ultrapassadas por mulheres. Até mesmo seguir profissões que tratam de assuntos considerados tabus, rompe com as expectativas de feminilidade. “Falar abertamente sobre eu ser sexóloga era assustador, ia passar uma imagem ruim. E claro que isso foi quebrado. Hoje, sou respeitada profissionalmente e obviamente vou ser considerada louca porque fujo dos padrões. Todas as mulheres que fogem dos padrões, são loucas”, critica Karina.
Esse diagnóstico foi usado por muitos anos para invalidar ações ou decisões de mulheres em relacionamentos, no mercado de trabalho ou no dia a dia com suas famílias, amigos, entorno. “A pauta desse movimento [feminista] no final do século XIX não era a histeria. Mas, embutido nessa questão das sufragistas, a gente pode considerar que essa forma de repressão sexual vai também se dedicar à autonomia dos corpos. As mulheres querem autonomia social”.

Carolina Toffanetto passou por um relacionamento de sete anos com Matheus, conhecido como “bom-moço” pela sua família e pela cidade. A família dele a adorava, até o término, em outubro de 2022. Ele morava em outro estado e espalhou que Carolina era louca, histérica e não o deixava em paz durante seus meses de relacionamento à distância. A mãe de Matheus dizia que Carolina tinha magoado seu filho, e o restante da família tinha a mesma opinião. “O discurso dos tios era: ‘Não, ela não era para ele, ela era muito desajustada, gostava de festa, bebida, tinha um cabelo colorido, piercing, essas coisas assim’”, relata.
Os gostos das mulheres, em especial se fogem à norma, são usados para desqualificá-las, sempre que preciso. Como um homem com boa imagem causaria algum mal? Principalmente se ela não agiu como se espera de uma mulher comprometida.
A interseccionalidade, ou seja, as diversas camadas que determinam a existência de uma pessoa, também tem um peso diferente para as mulheres de diferentes classes econômicas. As mulheres com menor renda, as trabalhadoras, não têm a mesma cobrança moral que as mulheres com mais recursos financeiros. Giovana explica que “as mulheres de classe alta são o ideal a seguir na sociedade” e as menos abastadas “são muitas vezes deixadas de lado. Elas estão ali para servir, em certo sentido”. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), em 2022, 49,1% dos lares brasileiros eram chefiados por mulheres. “Tenho muito orgulho e felicidade em dizer que trabalho firmemente em conjunto com as pacientes, para que elas não ajam dessa forma, para que sejam livres, independentes e frágeis se quiserem, sem cobrança”, afirma Karina.
Apesar das diferenças sociais e econômicas entre as mulheres, há um ponto em comum que atravessa todas essas experiências: a pressão constante para atender a um padrão ideal de comportamento e aparência. Essa expectativa, muitas vezes silenciosa, cria um modelo de feminilidade que se impõe de forma sutil, mas poderosa. É nesse contexto que se consolida a figura da “mulher complicada e perfeitinha”, um ideal construído ao longo do tempo, que continua influenciando como as mulheres devem se portar, se vestir e até sentir.
“Complicada e Perfeitinha”
A figura da mulher ideal carrega uma série de exigências que foram transformadas ao longo dos anos, mas mantém alguns padrões: ser bonita, mas discreta; manter a casa em ordem; ter filhos e cuidar dos filhos; ser desejável, sem ser provocante. A aparência deve ser impecável, o comportamento contido, a vida sob controle. Apesar dos avanços sociais, o modelo de perfeição feminina ainda é uma regra silenciosa, mas presente.
Essas imposições vão além do desejo de agradar e viram padrões que moldam escolhas, a autoestima e o comportamento de milhares de mulheres, e cobram uma conformidade exaustiva. Susan Tirloni, 29 anos, é modelo plus size e sente o peso das exigências sobre as mulheres. “Eu tentei ser perfeita para a minha família, para o meu pai, e não conseguia”, afirma a modelo.

Susan conta que sofreu bullying familiar por estar acima do peso, o que afetou sua autoestima na adolescência. Ela tentou mudar o corpo para agradar parentes e parceiros, aderindo a dietas extremas para emagrecer rápido, mas isso também gerou críticas. “Não queria fazer dieta, não queria ir na nutricionista, não queria fazer exercício. Queria, para ontem, perder 10 quilos. Quando isso veio a público, tive muito feedback negativo de pessoas vindo no meu direct me xingar. Mas também teve outras pessoas que super entenderam o que eu estava passando”, compartilhou Susan.
Não queria fazer dieta, não queria ir na nutricionista, não queria fazer exercício. Queria, para ontem, perder 10 quilos. Quando isso veio a público, tive muito feedback negativo de pessoas vindo no meu direct me xingar. Mas também teve outras pessoas que super entenderam o que eu estava passando
Mesmo enfrentando rejeições e julgamentos, Susan conquistou espaço em campanhas de marcas como Ashua Curve, da Renner; Bonjour e Dove; além de algumas boutiques em Campo Grande. Ela enxerga avanços na moda quanto à inclusão de corpos diversos, mas ainda vê muita coisa que precisa mudar. “Se a grande maioria está um pouco acima do peso, como vai vestir só cabide?”, questiona a modelo.
Para ela, promover diversidade não é romantizar a obesidade, mas normalizar corpos reais, uma pessoa que tem gordura, culote, estrias e celulites. A mulher perfeita não existe – o essencial é o respeito e o cuidado com a saúde. A caçada pelo corpo perfeito acaba adoecendo diversas pessoas na tentativa de estarem bem consigo mesmas. A beleza não é uma verdade única. Ela muda de acordo com a época, a cultura, o lugar e a classe social.
A modelo observa que o que hoje se chama de harmonia ou equilíbrio do corpo é uma construção da sociedade, e não algo natural. Não é o formato do corpo, a cor da pele, o cabelo, o peso ou a altura que definem o valor de uma pessoa. A pergunta que fica é: beleza para quem e para quê? O padrão existe mais para controlar do que para aceitar a diversidade.
A ideia de perfeição também aparece quando se fala do comportamento das mulheres. Susan admira a força de quem consegue dar conta de tudo. Para ela, sua avó é o maior exemplo. Ela “morava na roça, cozinhava para todo mundo, deu educação para a minha mãe, para o meu tio, cuidou do marido”. Como muitas mulheres, Susan vê nesse modelo, que junta trabalho, família e autocuidado, o ideal a ser seguido. Isso mostra como o padrão de perfeição vai além da aparência e impõe cobranças no modo de viver.
A pressão por um padrão único de beleza e comportamento afeta diretamente a autoestima feminina, impondo a busca constante pela perfeição. No trabalho, espera-se que sejam competentes e bem-sucedidas, mas também carinhosas e gentis.
Kiohara Schwaab, 30 anos, é modelo, atriz, jornalista e mãe. Mesmo dentro dos padrões tradicionais de beleza – mulher branca, magra e de cabelos lisos -, enfrentou os desafios impostos pela sociedade. Possui quadril largo e para sua carreira de modelo, de acordo com ela, isso era inadmissível. “Como que se perde o quadril? Não tem como, só se eu lixasse meu osso. Entrei em uma paranoia. Fiquei pensando que precisava emagrecer, emagrecer, emagrecer, até que fiquei um palito mesmo”, lembra a atriz.
Como que se perde o quadril? Não tem como, só se eu lixasse meu osso. Entrei em uma paranoia. Fiquei pensando que precisava emagrecer, emagrecer, emagrecer, até que fiquei um palito mesmo
A pressão social é algo tão expressivo que mesmo estando no padrão considerado ideal, a mulher ainda é julgada. Se é muito bonita, se torna uma ameaça aos relacionamentos alheios. Se é magra, branca, loira, em 2025 será questionada pela pressão social. Quem estava confortável ou se esforçou a vida inteira para acessar o padrão, hoje pode ter que lidar com o questionamento desses mesmos estereótipos. Esse foi o caso de Kiohara, que já perdeu empregos por conta dessa pressão que muda de tempos em tempos, a depender da localidade, idade, cultura, classe social.
Como mãe, se preocupa com o impacto desses padrões na filha. Desde cedo, meninas são educadas para cuidar de si e dos outros, e estarem sempre arrumadas. Kiohara diz que sua filha já expressa ideias sobre beleza com as quais ela não se identifica, e tenta ensiná-la a questionar esses conceitos.
A atriz conta que um dia sua filha comentou que não queria mais ter cabelo curto, porque era “feio”. Kiohara, então, questionou a filha sobre achar cabelo curto feio e ela apenas respondeu que cabelo comprido é mais bonito. Para mudar o pensamento da menina, a mãe perguntou sobre a origem de tais ideias.
Como jornalista, também foi julgada pela aparência e precisou reafirmar seu valor profissional. Atuando com assessoria de imprensa, geralmente assessorava homens e ouvia frases como: “você é bonita, por que você não aproveita isso para fazer mais dinheiro?” ou “por que você não aproveita isso para vender seu serviço, uma foto ou um vídeo para tal pessoa?” Kiohara desabafa que é sempre um homem que faz esses questionamentos, como uma demanda.
A construção dessa mulher “perfeita” vem desde a Antiguidade, com normas sociais, religiosas e culturais que limitaram sua autonomia e reforçaram a submissão aos homens. Segundo a historiadora Giovanna Trevelin, esse processo está ligado ao patriarcado – sistema social baseado na supremacia masculina, em que os homens centralizam o poder e definem normas que moldam a vida das mulheres. “Essas perspectivas do patriarcado acabam reforçando e modificando esses padrões nas mulheres”, afirma a historiadora.
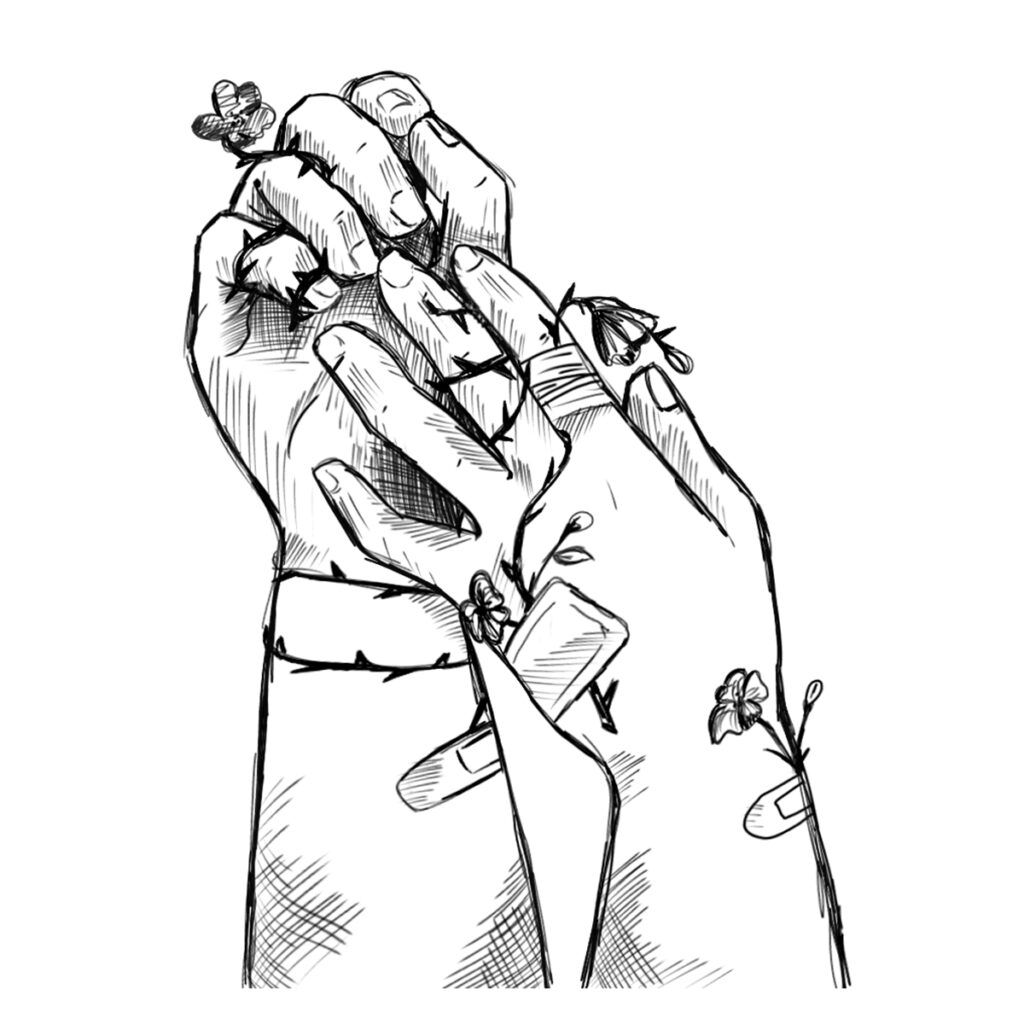
Tanto Susan quanto Kiohara já se sentiram inseguras com seus corpos por buscarem aceitação masculina. Susan queria ser perfeita para o pai e o ex-namorado. Kiohara queria se manter valorizada em um ambiente dominado por homens. “Essas questões já entraram em mim, de tentar atingir esse padrão que na verdade é totalmente masculino”, define Kiohara.
“Pra nos oprimir?”
Além do patriarcado, a moral católica criou uma figura feminina idealizada e, muitas vezes, inatingível. Esperava-se que a mulher fosse casta, obediente, recatada e dedicada aos outros, baseada na moral religiosa de Maria, a virgem mãe de Jesus. Com a crescente influência da Igreja, as mulheres passaram a ser vistas como moralmente inferiores, submetidas a um modelo que restringia sua atuação ao papel de mãe e esposa.
O patriarcado se utiliza dessa concepção religiosa e a adapta às mudanças sociais, mantendo o controle sobre a vida das mulheres e reforçando um comportamento social adoecido. A psicóloga Karina Brum percebe essa adaptação, quando escuta mulheres em sua clínica dizendo que o papel da mulher é cuidar da casa, ser uma boa mãe e uma boa esposa, servindo ao marido.
Na era digital, essas imposições se tornaram mais acessíveis e potencializam a comparação e a autocobrança, afetando a saúde mental. “Por pertencer a uma realidade financeira, social ou política diferente, ela se sente fracassada, porque não é igual as pessoas que vendem as imagens [perfeitas] na internet”, analisa Brum.
Os estereótipos afetam a saúde mental feminina, provocando altos índices de depressão, ansiedade e distúrbios alimentares. O estudo Calendário da Saúde do Instituto de Setor de Opinião Pública de Sondagem (Ipsos), de 2024, aponta que 45% dos entrevistados sofrem de ansiedade, sendo 55% destes, mulheres. Os que relataram depressão somam 19%, sendo 24% mulheres e 13% homens.
A psicóloga explica que autoestima e a saúde mental estão ligadas à aparência e à aceitação, sobretudo familiar, buscando ser a filha que o pai e a mãe sempre desejaram. Essa cobrança vem desde a infância, como no caso de Susan. A psicóloga aponta que mulheres que tentam agradar a todos e se encaixar em padrões irreais sofrem emocionalmente, pois não querem decepcionar a quem amam. “É muito complicado para alguém que não é ouvida dentro da própria casa, e convive socialmente com as pessoas, se respeitar e entender que ela não tem que ser igual”, acrescenta.
Padrões estéticos, portanto, influenciam o comportamento feminino, e qualquer desvio é tratado como falha. Um exemplo é a expectativa sobre as meninas terem que sentar de pernas fechadas e usarem roupas ditas femininas. Isso, porém, não define a feminilidade de nenhuma mulher.
A pressão por uma existência ideal afeta as mulheres em todos os campos: no trabalho, nos vínculos sociais e nas escolhas de carreira, entre outros. Assustadoramente, meninas ainda são induzidas a profissões vistas como femininas. “Ela não pode ser uma ortopedista, uma urologista, tem que trabalhar com algo mais feminino”, explica Brum.
As redes sociais amplificam essas cobranças. Imagens filtradas de mães empreendedoras e mulheres “que dão conta de tudo” reforçam um ideal inalcançável. “Você vai fazer o seu melhor dentro da sua realidade, porque você consegue fazer. Vai ser muito bem feito, mas dentro da sua realidade, respeitando a sua vivência atual, a sua existência”, é o que ela fala para suas pacientes.
Você vai fazer o seu melhor dentro da sua realidade, porque você consegue fazer. Vai ser muito bem feito, mas dentro da sua realidade, respeitando a sua vivência atual, a sua existência
Esses estereótipos alimentam a violência física, emocional, sexual e patrimonial contra a mulher. Brum explica que antes da violência física, geralmente a mulher já sofreu outros tipos de abuso. A falta de acesso à educação contribui para a aceitação dessas situações.
A violência de gênero é estrutural e cultural, alimentada por padrões patriarcais. Segundo dados das Secretarias Estaduais de Segurança, com base no Censo 2022 do IBGE, MS é o segundo estado com maior índice de feminicídio. De 2015 a 2025, o estado registrou 346 casos, segundo o Monitor da Violência Contra a Mulher. Nesse sentido, Brum defende a importância da psicoeducação, educação sexual e conscientização sobre os direitos das mulheres para combater a violência.
Segundo ela, a educação sexual é uma educação para viver. “Não é trabalhar em cima do vitimismo ou do assistencialismo, mas sim de uma cultura onde as pessoas, principalmente as mulheres, saibam o que significa o estupro marital (quando o parceiro não se importa se a mulher está acordada, consciente ou preparada para o ato sexual e a penetra sem consentimento). Porque na cabeça dele, você é mulher dele. E qual é o problema? Tô fazendo sexo com a minha esposa”.
Tainá Jara, jornalista e pesquisadora de estudos de gênero, destaca que a imprensa reforça o desprezo e o controle sobre corpos e vidas femininas. A mulher é atacada em sua intimidade, e os marcadores de feminilidade se tornam alvos, muitas vezes resultando em feminicídio.

De acordo com a jornalista, essas violências são incorporadas sutilmente pelo capitalismo para estimular o consumo midiático, moldando não só os corpos, com estereótipos de magreza e diversas formas de padronização, mas atingindo também a subjetividade feminina.
A pressão estética, somada a desigualdades de etnia, classe, localização e deficiência, dificulta uma representação justa das mulheres, segundo Jara. “Todo esse acúmulo pode levar a uma espécie de neutralização, apesar dos inúmeros eventos históricos de resistência das mulheres. Sobrevivemos até hoje por eles”, reforça.
Para ela, a imprensa e as redes sociais podem se tornar aliadas da transformação feminista se, houver compromisso com a mudança cultural. “Envolve um pacto social em torno do feminismo, ou seja, de todas as iniciativas no sentido de buscar a equidade entre homens e mulheres”, afirma a jornalista.
A luta por liberdade e autenticidade segue, mas o movimento que rejeita o ideal da mulher perfeita cresce. Em vez de trocar um padrão por outro, propõe-se romper com a lógica da norma única e valorizar a pluralidade das experiências. O futuro da feminilidade está na diversidade, sem imposições que limitem ou silenciem. Como cantava Elza Soares para que não nos calemos, pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar, pra nos oprimir?
“Não sou freira, nem sou puta”
As discussões sobre a sexualidade feminina sempre estiveram presentes nas diferentes sociedades. De acordo com a historiadora Gabriela Trevelin, durante a Era Vitoriana (1837 a 1901), não existia a sexualidade feminina, uma vez que as mulheres eram consideradas incapazes de sentir prazer. Mas esse entendimento, como explica a historiadora, era baseado em um mito sobre o órgão reprodutor feminino, no qual o útero seria um parasita responsável por todos os desejos e que as mulheres não tinham nenhum controle sobre ele.
O controle do corpo das mulheres foi um dos pilares para a manutenção do sistema patriarcal, não apenas na questão estética, mas também em como as mulheres teriam acesso ao sexo, ou poderiam se expressar sexualmente. Como explica a historiadora, a mulher passou a ser considerada adequada apenas quando agia de acordo com a moral cristã. “A sexualidade feminina é voltada para essa moral religiosa, sempre repreendida e reprimida, servindo para atender ao homem e aos seus desejos sexuais, sempre colocado hierarquicamente como superior”, ela comenta.
A pressão pela perfeição também gera sobrecarga no campo sexual. A psicóloga Karina Brum explica que as delimitações do que é ser mulher e qual papel é preciso desempenhar sempre foram um fardo para as mulheres, que afeta, em especial, as jovens. Porém, atualmente, parece que há maior liberdade para lidar com a sexualidade e de maneira mais permissiva.
Segundo Brum, geralmente mulheres que estão em relacionamentos há muito tempo, raramente têm orgasmos, e sempre desempenham um papel de serventia à satisfação do outro. “A maioria das mães e mulheres que têm entre 45 e 60 anos tiveram uma educação mais moralista e tradicional. O que acarreta uma ansiedade muito grande e isso gera, ao longo dos anos, doenças psicossomáticas, como artrite, artrose, lupus, etc.”, pontua a psicóloga.
O problema é que o universo sexual sempre foi um campo muito restrito às mulheres. Tão restrito que nem mesmo a saúde ginecológica e sexual pôde ser conversada. Quando jovens, as mulheres, hoje com mais de 40 anos, enfrentaram ainda mais obstáculos para obter informações básicas.

É o caso de Maria*, 46 anos, criada em uma família católica no interior do estado, que nunca conversou sobre educação sexual em casa. “A primeira vez que fui ao ginecologista foi quando tive a minha filha mais velha, aos 19 anos. Então, comecei a ter algum tipo de ensinamento sobre o assunto com as mulheres da minha família”, lembra.
Além de nunca ter tido algum tipo de esclarecimento sobre sua saúde sexual e ginecológica, Maria lembra que desde pequena foi ensinada a esconder sua menstruação.
Mesmo com vinte anos de diferença, a história da cineasta Lorena Scarpel, 26 anos, tem um ponto em comum com a geração de Maria: a primeira vez que se consultou com um/a ginecologista foi aos 19 anos. Apesar de também ter nascido em uma família católica, ela se desvinculou da religião. Ainda que sua família fosse menos rígida, não foi o suficiente para que ela tivesse acesso à educação sexual em casa.
Depois de muito tempo de uma, praticamente, autodescoberta, Lorena se define com uma mulher assexual e arromântica (que sente pouca ou nenhuma atração sexual e romântica). Foi a falta de conhecimento sobre sexulidade e espaços para conversar sobre sexo que dificultaram esse entendimento. Por esse motivo, passou por constrangimentos durante a adolescência, e se sentia coagida a responder às expectativas sociais. Mentir foi a solução encontrada para se encaixar. Enquanto suas amigas expressavam abertamente suas atrações e desejos por outras pessoas, ela mesma nem entendia o que sentia.
O medo de não pertencer à um grupo fez com que ela tivesse a sua primeira relação sexual apenas por vontade de pertencimento. “A todo o momento, até eu transar com um garoto, eu pensava que tinha um roteiro para seguir e precisava seguir até o final. Mas não me sentia atraída por ele, e a relação sexual não foi legal para mim, ainda que eu tivesse consentido”.
A falta de controle sobre suas próprias sexualidades faz com que as mulheres se vejam obrigadas a desempenhar um comportamento padrão, que em grande parte das vezes não condiz com o que elas são. A psicóloga explica que mulheres criadas nesse ideal de perfeição podem entrar em conflito com os seus próprios desejos, que não condizem com o que foi ensinado a elas.
Em diferentes situações, mulheres como Lorena, acabam agindo para corresponder às expectativas do outro ao invés de suas próprias. “Uma mulher veio ao meu consultório porque estava com dificuldade de ter relações sexuais com seu marido, porque toda vez ela lembrava de como o pai a considerava uma princesinha. E por ser a princesinha dos olhos dele, ela não podia decepcionar e tinha que morrer virgem”, conta a psicóloga. É absurdo, mas a sexualidade feminina é, por muito tempo, mais um domínio social do que uma questão individual.
Boa parte das questões que cercam os estereótipos femininos estão ligadas à sexualidade feminina. Brum ressalta que um dos mitos que mais causam sofrimento para as mulheres atualmente é o de jamais demonstrar desejo e querer procurar alguém, para não ficarem mal faladas. Essa é uma realidade que Maria conhece muito bem, mesmo após ter criado duas filhas, ter um emprego estável e ser uma mulher solteira. Ela não se sente livre para ter parceiros sexuais.
Morando no interior de MS, antes de pensar em seus desejos sexuais, Maria pensa no que podem pensar dela. “Mesmo que hoje falar sobre sexo tenha se tornado algo natural, ainda sinto receio do julgamento das pessoas de uma cidade pequena. Mas já me privei [sexualmente] muito mais, e com o tempo consegui deixar de ligar tanto para a opinião das pessoas”, explica.
Educação sexual: ferramenta de resiliência
Mas o que é esperado da sexualidade feminina quando há tantas barreiras? A historiadora Giovanna Trevelin explica que a separação da mulher dos seus próprios desejos sexuais foi necessária para que ela pudesse ser encaixada no papel de mãe. Uma outra mulher, da devoção à criação das filhas e filhos e à família. Ela explica que ser mulher é algo que foi sempre atrelado à reprodução, e que os estereótipos que surgem a partir disso reforçam esse papel reprodutor.
Por isso, o sexo foi visto, ao longo da história, como uma ferramenta de domínio, e a sexualidade feminina foi tratada como algo a ser suprimido. A historiadora conta ainda que na Alemanha Nazista, por exemplo, o dever estabelecido para a mulher era o de casar, “passar da mão do pai para a mão do esposo”.
Nem sempre fazer parte de famílias mais liberais significa mais liberdade para as mulheres. A jornalista Taís Wölfert, 25 anos, é um exemplo de que não dá para escapar de algo enraizado na sociedade. Criada por sua mãe, que sempre fez questão de que as duas filhas e o filho soubessem sobre educação sexual, Taís enfrentou um relacionamento abusivo entre seus 16 e 17 anos, e sofreu abuso sexual.
Apesar do diálogo aberto com a mãe, ela não tinha a mesma relação com o pai. “Naquela época, meu pai nunca usou essas palavras, mas deixava claro que pensava que eu não me dava o respeito. Eu me questionava o que era se dar ao respeito”, conta a jornalista.
Naquela época, meu pai nunca usou essas palavras, mas deixava claro que pensava que eu não me dava o respeito. Eu me questionava o que era se dar ao respeito
Taís demorou anos para se relacionar sexualmente com outros homens, e a educação sexual que recebeu a ajudou a não se privar de seus desejos. Ela entendeu que sua sexualidade e seus desejos não precisavam de um outro alguém para existir, muito menos precisavam ser escondidos ou ignorados.
A educação sexual não é um escudo que protege as mulheres de serem vítimas de crimes como abusos sexuais. Na verdade, permite que as mulheres entendam não apenas pelo o que passam, mas também seu próprio prazer e também a ganhar confiança para seguir as suas relações. Em sua essência, a educação sexual é um passo fundamental para que toda a misoginia estrutural do Brasil possa ser revertida, e para que os homens não sejam criados em ideias de supremacia masculina.

Apesar do relacionamento abusivo ter impactado seu comportamento, tornando-a “tensa em relação à prática sexual”, Taís usou da masturbação como uma forma de se conhecer, se entender melhor e ficar mais confortável com a sua própria sexualidade. “Hoje em dia, consigo olhar de forma egoísta para o meu lado, então antes de querer causar prazer para ele, preciso sentir o meu prazer primeiro”.
Brum conta que muitas mulheres nem mesmo conseguem entrar em um sex shop sem se sentirem culpadas por estarem ali e não usando o tempo para estudar ou cuidar da casa, por exemplo. “Eu escuto com mais frequência do que gostaria, mulheres falando que é normal para o homem frequentar um puteiro, mas quando falamos de uma mulher em um sex shop, a resposta é sempre preocupada em ser vista e o que podem pensar”, comenta.
As convenções sociais ditam que as mulheres devem ser mais passivas e submissas quando o assunto é sexo, porque os homens possuem desejos latentes e institivos. “Essa convenção não funciona, porque se a gente fala isso, afirmamos que o homem é animalesco, porque só os animais possuem um cérebro não desenvolvido que pensa apenas em saciar o instinto”, esclarece.
A sexualidade feminina, ou a forma como ela é expressada, não é apenas suprimida pela sociedade patriarcal que precisa reafirmar a masculinidade também por esse caminho, ela é usada como ferramenta de agressão contra a própria mulher. No Brasil há um vasto vocabulário de ofensas que tem como base o sexo e o feminino.
Maria é mais uma, entre milhares de mulheres, que em um momento de discussão teve a moral atacada por conta da sexualidade. Diz que durante seu casamento, nas brigas, foi chamada de vagabunda, puta e outros xingamentos. Essa violência é um dos resultados da opressão às mulheres.
O ápice da violência de gênero, seja para mulheres cisgenero ou transgênero, transexuais e travestis, é o feminicídio (saiba mais no infográfico na página 20). No Brasil, a média é de dez feminicídios por dia, segundo o Atlas da Violência de 2025. Em dez anos (2013 a 2023), 47.463 mulheres foram assassinadas no país. Em Mato Grosso do Sul, o Monitor da Violência Contra a Mulher, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, apontou que entre 2015 e 2025, 346 mulheres foram vítimas de feminicídio.

A jornalista e doutoranda em comunicação, Rafaela Flôr, explica que é possível perceber, nesses crimes, o controle sobre o corpo feminino. “Em casos mais violentos, mais brutais, existe essa demonstração de poder sobre aquele corpo. Então, virilha, seio, rosto são atacados e as roupas são arrancadas. Os corpos são ali deixados à vergonha”.
Em casos mais violentos, mais brutais, existe essa demonstração de poder sobre aquele corpo. Então, virilha, seio, rosto são atacados e as roupas são arrancadas. Os corpos são ali deixados à vergonha
Porém, se a sexualidade feminina foi construída pela sociedade patriarcal como um instrumento de controle e de coerção, com o passar do tempo, as mulheres reivindicaram o direito a uma sexualidade saudável, consciente e empoderada de suas próprias vontades e necessidades sexuais. É preciso reforçar, ainda, que essa energia erótica não é apenas gasta no ato sexual, existem diversas formas de sentir prazer.
Para Lorena, ser uma mulher assexual ainda não é algo totalmente resolvido, mas ela descobriu que conhecer seus limites foi fundamental para entender e começar a viver uma vida mais confortável consigo mesma. “Desde o ano passado, estou me relacionando com uma pessoa e está sendo bem legal entender os meus limites, os limites da pessoa, o que me sinto confortável ou não de fazer, e conversar sobre tudo isso com ela”, conta.
Taís também enxerga o autoconhecimento e a compreensão sobre o próprio corpo como essenciais para que as mulheres não acabem se deixando de lado para agradar os outros. “Os homens estão sempre acostumados a serem agradados, mas eu também tenho que sentir prazer na hora do sexo. As mulheres também têm o direito de sentir prazer sexual”, finaliza.
Os homens estão sempre acostumados a serem agradados, mas eu também tenho que sentir prazer na hora do sexo. As mulheres também têm o direito de sentir prazer sexual
A fala de Taís resume o que atravessa todas as histórias contadas neste caderno: a busca pela liberdade de sentir, escolher, mudar e existir. A sexualidade das mulheres sempre foi vigiada, reprimida ou usada contra elas, assim como o controle sobre seus corpos e comportamentos. Por trás de todos os estereótipos que citamos, está o mesmo sistema: um que dita como elas devem agir, se vestir, falar, sentir e até o que devem calar.
Romper com esse sistema é um ato coletivo. Ser dona do próprio corpo, da própria sexualidade e das próprias decisões ainda é um direito que precisa ser defendido diariamente. As mulheres são plurais, diversas em corpos, desejos, trajetórias e formas de existir. Nenhuma deve ser medida por um padrão e nenhuma sociedade será justa enquanto continuar pressionando e controlando os corpos femininos.