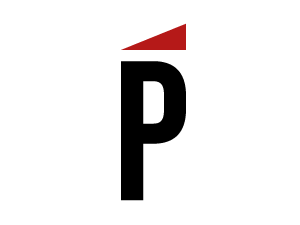Texto: Maria Eduarda Boin
Ilustração: Accacio Mota

“E agora, José?”. Como se estivesse embarcada nas estrofes do poema de Drummond, os sentimentos por essa pandemia me levavam água abaixo. Vivi todos esses vinte anos de vida na mesma comunidade campo-grandense. Isso não quer dizer que sabia o que era viver nela ou que prestava atenção em qualquer semiótica que me fosse proposta por conta dela. Eu nem sequer pensava que ‘viver em comunidade’ mudava algo em minha rotina. Era só acordar, me arrumar e ir para qualquer lugar recheado de pessoas, por obrigação ou lazer, sem maiores preocupações. Mas, tal qual o poema: “a luz apagou, o povo sumiu e a noite esfriou e agora, José?” A OMS decretou pandemia e o isolamento social era a única solução para evitar a propagação de um vírus ainda pouco conhecido mundialmente.
“Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta; quer morrer no mar, mas o mar secou; quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora?”. Do nada, ninguém mais podia acordar e sair porque isso era perigoso demais, colocava todo mundo em risco. Tudo o que se via eram tetos brancos ou paredes de quartos, salas, cozinhas. Alguns viam a grama do quintal, mas nem todos tinham quintal. Ficaríamos em casa, com essas visões limitadas por tempo indeterminado, até que o coronavírus não fosse mais um problema sem solução. Quem nunca havia sequer prestado atenção nos nuances comunitárias em que viviam, assim como eu, começam a sentir na pele a falta que viver em grupo faz. A falta do abraço, do sorriso, de abrir a porta e ir, da interação.
Todas as perguntas que envolvam ‘quando vamos ter o que tínhamos?’ ou ‘ver o que víamos?’ continuam sem respostas, e a incerteza segue afundando pessoas em suas camas. “Sozinho no escuro qual bicho-do-mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar […] você marcha, José! José, para onde?”. A comunidade escorre por entre os dedos. Todos agora lembram como era bom frequentar a feira da cidade, compartilhar valores, buscar pela cultura nas ruas do centro ou ir até a praça lotada de gente aos domingos. Diariamente nos deparamos com postagens nas redes envolvendo a falta disso ou daquilo. A falta de simplesmente olhar as pessoas nos olhos, dividir mesas e histórias, compartilhar vivencias, deixam a gente sem saber porque não enxergávamos o valor de tudo antes. Paramos de prestar atenção na correria de uma vida capitalista e afobada, para nos atentarmos às nuances de nossas identidades e culturas, únicas lembranças que restaram na mente ao ficarmos isolados da comunidade e a mercê da internet.
A cultura, principalmente, nos traz resquícios do que podíamos aproveitar ao sair na rua. Além disso, já em quarentena, ela é quem continua nos distraindo dos números de mortos e momentos caóticos em que duvidam da ciência. A cada semana temos a notícia de algum estabelecimento que fechou as portas, desde os mais tradicionais até os de público especifico, mas que, em união, tinham o mesmo propósito: reunir pessoas que compartilhassem gostos e costumes. O momento nos soca na cara: quando voltarmos até mesmo a cultura estará abalada.
Tantas coisas se desorganizaram que temos a sensação de um constante terremoto e o chão parece não existir, nada mais é estável ou controlado. Muita gente jamais imaginaria viver momentos como esse. Vociferavam que seria rápido, pois não passava de ‘uma gripezinha’. “[…] não veio a utopia e tudo acabou, tudo fugiu, tudo mofou, e agora, José?”. Até o dia em que aqui escrevo já somam, só no Brasil, mais de 35 mil mortos e 700 mil contaminados e, a cada dia, os números precisam ser atualizados por mais centenas. Nem mesmo o ‘histórico de atleta’ vem salvando as pessoas. Não se sabe se é pelo incentivo presidencial ou pela falta de informação, mas a comunidade campo-grandense tenta sair as ruas novamente em aglomerações verde-amarelas, que pedem o fim da quarentena. A falta do ir e vir ou até mesmo de colocar seus funcionários para trabalhar pode ser dolorosa, mas ninguém é a prova de balas, ou melhor, de vírus. É melhor conviver com a falta, sabendo que sairemos depois disso às ruas, e não em caixões.