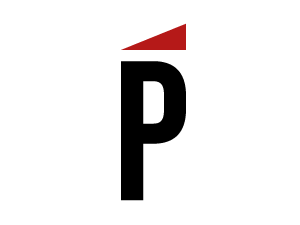Texto: Sandy Ruiz
Ilustração: João Antônio
Eu sempre fico um pouco nervosa antes de me apresentar, acho que é por medo do que vão pensar, já que eu tenho muita fama por aí. Você mesmo já deve me conhecer ou pelo menos ter ouvido falar de mim. Aliás, confesso que sou da natureza e estou em quase todos os lugares: seja um rolezinho entre amigos para dar risada ou até dando uma forcinha na medicina.
Apesar de estar presente em várias camadas da sociedade, ainda tem muita gente que torce o nariz quando ouve meu nome. A má fama não é tão recente assim, mas o porquê disso, ainda é muito discutido hoje em dia. O que se pode afirmar é que os estigmas sobre mim andam lado a lado com o racismo estrutural na sociedade.
É o cigarrinho do capeta, alguns dizem. É só um beckzinho, outros defendem. Maria Joana ou simplesmente cannabis? O apelido popular vai até onde a criatividade permitir chegar. Não me importo. Embora no começo, bem no início, eu fosse chamada de: pito do pango, o “fumo de negro”. Não que apenas os negros me utilizassem naquela época, mas é que quando estava na posse de um homem branco e rico, eu era apenas mais um cachimbo, daqueles que o senhor endinheirado fuma em um dia qualquer para se distrair.
Das leis contra a vadiagem, em 1800, às cadeiras do Senado moderno que conduz as leis antidrogas no país, nada muda. Inclusive, em 2024, os passos andaram para trás quando o Senado aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que proíbe qualquer tipo ou quantidade de drogas. Nem eu fiquei de fora. Como se essas leis resolvessem o problema ou valessem para todos.
Veja bem, quando acompanho um jovem rico, filho de uma família conhecida em uma cidade importante, não causo revolta, mas piedade ou até mesmo complacência. Em uma abordagem, esse jovem não vai ser jogado no chão ou na parede. Não vai ouvir berros e poucas vezes enfrentará um processo criminal. Mas e quanto a mim? Ninguém nunca mais toca no meu nome porque não vale a pena estragar a vida de um jovem, talvez um futuro médico ou advogado que teve o azar de errar uma vez. E outra vez, ou outra depois daquela.
Agora se a pessoa for pobre e negra, filha de ninguém e morando em lugar algum, a história é diferente e a abordagem também. Na pobreza o vício não causa pena, mas ódio. Ela será julgada, encarcerada e ainda mais excluída da sociedade. Esse jovem, ou melhor, delinquente negro, não tem, nem terá, um futuro promissor, ele é só mais um que se meteu comigo.

E as contradições não param por aí. Minha importância também tem relação com a popularidade e eu posso mostrar. Se um artista famoso (entre tantos nomes que poderiam ser citados) for pego no pulo comigo, ele estaria relaxando. Enquanto isso, a dificuldade se mantém com quem passa despercebido na multidão e/ou para quem está doente e precisa da minha ajuda para aliviar os sintomas de uma doença.
Para essas pessoas são exigidos inúmeros papéis, autorizações e uma batalha na justiça para provar as necessidades. Para os raros casos de aceitação é dada a denominação de “uso medicinal”. Apesar do olhar torto e da desconfiança quanto à eficácia, se torna um passe livre.
A diferença está escancarada para quem duvidar. Nem é preciso ir até um bairro pobre ou subir uma favela, basta ligar a televisão ou se atentar às manchetes dos jornais. Não demora muito para ler manchetes como a do Metrópoles, de maio de 2022: “Detido com 23g de maconha, homem negro fica preso 3 anos por tráfico”, e todos aplaudem por alguém tão perigoso estar fora das ruas. Em outros casos são utilizados infinitos adjetivos como traficante ou usuário.
Se mudar alguns “detalhes” como local e raça, o final da história é muito diferente. A polícia busca sempre o mesmo perfil para a abordagem: adivinhem? E a mídia usa o mesmo nome na acusação: o meu. Enquanto a sociedade tem o mesmo local para culpar: a favela. Como se fosse um sermão, inquestionável, repetido ao longo dos anos.
Apesar do preconceito e negação de uma parte da população, a realidade é que eu estou aqui e não vou a lugar algum.
Prazer, eu sou a Maconha.